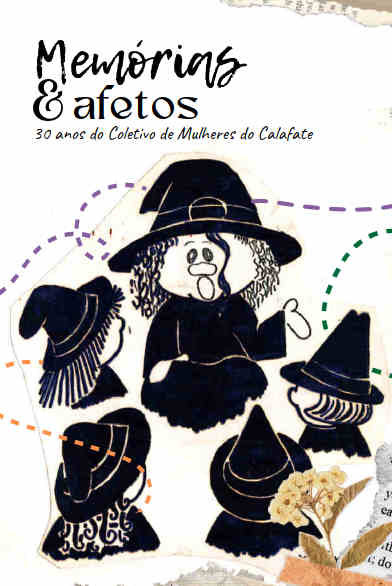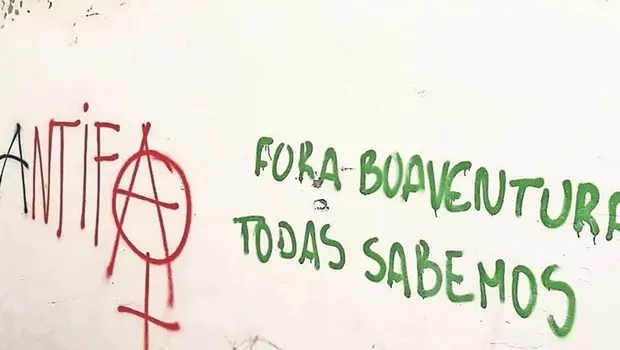Annie Ernaux, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2022, fala com a autora Kate Zambreno na Albertine Books em 10 de outubro de 2022, na cidade de Nova York. (Eugene Gologursky / Getty Images para Albertine Books)
GERCYANE OLIVEIRA
A escritora francesa Annie Ernaux recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Nesta entrevista exclusiva à Jacobin, ela explica como seu percurso acadêmico e a realidade de classe se dividem na forma de sua escrita.
Em outubro, a escritora francesa Annie Ernaux recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Vinda de uma família da classe trabalhadora da Normandia, Ernaux é conhecida por suas obras de “autossociobiografia” como Os Anos (Fósforo, 2021), nas quais as lutas que ela mesma travou estão ligadas a um contexto mais amplo da vida francesa do pós-guerra.
Nesta entrevista com Manuel Cervera-Marzal, Ernaux falou sobre as barreiras que os escritores da classe trabalhadora enfrentam, as influências sociológicas em seu pensamento e como escrever sobre a experiência individual pode expressar a violência da dominação de classe.
MCM
Seus estudos literários e seu sucesso nos concursos de ensino lhe ofereceram uma fuga das circunstâncias em que você cresceu. Mas estas circunstâncias continuam sendo um fator decisivo em sua escrita. Você acha que a origem da classe trabalhadora de sua família te levou a escrever diferentemente dos escritores de famílias mais privilegiadas?
AE
Farei uma primeira observação. Sua pergunta basicamente indica, a título de explicação, que o escritor da classe trabalhadora está de fato em uma situação diferente, ou seja, a situação dos dominados. Você provavelmente não faria a mesma pergunta a um escritor de origem burguesa. Eles são a maioria, mas nunca são perguntados: “Sua formação familiar o fez escrever de maneira diferente?” Acrescentarei que escritores da mesma origem que eu, que conheço, se recusariam a responder sua pergunta porque não querem aparecer como escritores diferentes dos outros.
Após esta observação preliminar — o que significa, de certa forma, que não quero ser iludida pela situação complexa em que o desertor de classe se encontra — posso responder à sua pergunta porque estou bem ciente em que espaço me situo. Portanto, não quero ser induzida a isso: não sei se fui “levada a escrever diferentemente”. O que é certo é que no início eu não estava ciente disso. Veio do momento em que meu primeiro livro Les Armoires Vides foi publicado, mas não enquanto eu o estava escrevendo. Esta é uma nuance importante.
Naquela época, eu sabia que o que estava escrevendo era bastante atípico, mas não me coloquei a questão da escrita em si ou do traço, em minha escrita, de minha formação na classe trabalhadora. Quando escrevi este livro, eu não sabia se seria publicado. Então, foi depois que o livro foi publicado que me associei a uma forma diferente de escrever — uma forma violenta, disseram os críticos. Então, abracei totalmente esta forma de escrever com o livro O Lugar, no qual recuso a ficção.
MCM
Em suas entrevistas com a diretora Michelle Porte, você conta: “Eu nunca pensei: ‘Sou uma mulher que escreve’. Eu não sou uma mulher que escreve; sou alguém que escreve”. Você diria o mesmo sobre a origem social de onde você vem? Será que, na escritora em que você se tornou, resta algo de seus avós camponeses e de seus pais da classe trabalhadora que se tornaram comerciantes?
AE
Estas são duas questões que se colocam. Eu sempre respondi que ser mulher não era a questão. É claro que a condição social e a condição de ser mulher — não falo de uma “essência”, mas de uma “condição” — podem ser sentidas no que escrevo, e elas me moldaram. Não posso excluí-las e dizer que elas são irrelevantes.
Em meu relacionamento com o mundo, em primeiro lugar, permanece algo de meus avós camponeses e de meus pais trabalhadores.
Por exemplo, o medo de não ter dinheiro suficiente para viver e de não ter que depender de ninguém para fornecer. Uma desconfiança geral dos outros, dos poderosos, mas não só — não sei se é específico da Normandia, de onde venho — e um pessimismo social. Algo desses medos, dessa desconfiança, passa para a escrita, para a frieza da análise. O medo de passar despercebida teve um papel na minha escolha de nunca desistir do trabalho docente.
MCM
Pela estabilidade que ela representa?
AE
Sim. Tive dois filhos para criar sozinha. E eu tinha outro medo — o de ser obrigada a escrever.
MCM
Ser professora significava que você não precisava escrever para se sustentar, que você era livre para escrever quando lhe agradasse…
AE
Isso mesmo. A ideia de que você tem que entregar um manuscrito a cada ano ou dois me aterroriza. Senti muito rapidamente que não podia aceitar esta restrição, que precisava de tempo para amadurecer um texto, para que ele fosse escrito. Portanto, se eu fizesse da escrita a minha profissão, a única, eu necessariamente quereria que meus livros fossem vendidos. Me parece que este desejo, esta necessidade material, obscurece as condições do que se escreve, o desqualifica. Pode não ser o caso para todos, eu não sei.
MCM
Muitas vezes afirmam que seu trabalho é um poderoso testemunho da realidade, que oferece aos leitores uma perspectiva aguçada sobre a violência das classes sociais e a dominação masculina. Mas para você, como autora, escrever não é, ao invés disso, uma forma de fugir da realidade, de se afastar da atribuição de papéis de gênero e de classe?
AE
Não, não é uma forma de fugir da realidade. Pelo contrário, é sempre uma imersão na realidade. Mas também é verdade que é, ao mesmo tempo, como para qualquer escritor, uma maneira de se distanciar das tarefas de gênero e classe. No entanto, a recepção dos críticos muitas vezes me arrasta de volta a ela, de uma forma insidiosa.
Estou muito impressionada no momento com o que é dito sobre Édouard Louis, todas as entrevistas o arrastam de volta para “você é um OVNI!” De alguma forma, ele não é legítimo. Louis me diz que ele está devastado, não é amado, e eu lhe respondo “mas você nunca será amado”. Ele não foi admitido. Como teria dito Pierre Bourdieu: “Onde está o seu ingresso?” Ao escrever, você se apropria dessa legitimidade, mas ela pode ser questionada a qualquer momento. Durante muito tempo, tive que especificar que eu tinha um diploma de ensino de pós-graduação. Isso me deu legitimidade. “Ela é uma de nós”, pensaram eles.
É talvez ainda mais complicado com a atribuição de papéis de gênero, pois atravessa todas as classes sociais e é um componente da recepção machista da literatura. Isto pode ser visto, por exemplo, na seleção de livros para prêmios, onde os homens às vezes são os únicos presentes! Quando Paixão Simples foi publicada, me atacaram como uma mulher que escreve de supostamente “não feminina”, mas também, de forma enigmática, como uma desertora de classe que havia escrito O Lugar.
MCM
A Vergonha, que você publicou em 1997, começa com esta cena traumática – “Meu pai queria matar minha mãe num domingo de junho, no início da tarde” — e conclui com esta confissão — “Sempre quis escrever livros sobre os quais era impossível para mim falar, o que tornaria o olhar dos outros insuportável”. Como a vergonha é uma força motriz no desejo de escrever?
AE
A frase que você cita continua: “Mas que vergonha eu poderia ter ao escrever um livro no nível do que experimentei nos meus doze anos”? Este é um processo — o desejo de vergonha, mas também a impossibilidade de que a vergonha escrita possa ser igual à verdadeira vergonha — que confirmei com muitos de meus livros, inclusive o próximo, Mémoire de fille (A História de uma Garota). Cada vez que sou vítima de uma ilusão: é antes da escrita, quando a estou planejando, que há vergonha. Então faço o livro, de alguma forma sou obrigada a fazê-lo, e não há vergonha na escrita do mesmo.
Sempre penso que morrerei de vergonha quando ele sair, mas nunca acontece nada. Eu nunca morri de vergonha porque, precisamente, escrever não é a vida. A vergonha é uma força motriz no desejo de escrever, mas não corresponde à vergonha, uma vez que a enche, uma vez que age e permanece, apesar de tudo, após escrever. Continua inutilizável, mas tendo sido escrita, é como se fosse dissolvida, compartilhada com os outros, de certa forma.
“Escrevo a vergonha com a ideia de que ela encontrará até mesmo uma pessoa para compreendê-la. Esse é o sentimento que me impulsiona.”
Em meu primeiro livro, Les Armoires vides, não tive vergonha de escrevê-lo porque não sabia se ele seria publicado. Isso muda tudo. Quando duas editoras aceitaram o manuscrito, fiquei arrasada, percebendo de repente o que eu havia escrito. O Lugar foi um ponto de virada, porque pela primeira vez abracei um “eu” fora da ficção, e nunca mais voltei atrás, pois decidi enfrentar a realidade — e assim, de certa forma, a vergonha — de frente.
MCM
Você mencionou Édouard Louis. Em 2014, a publicação de seu livro The End of Eddy ressuscitou o debate entre miserabilismo e populismo, entre aqueles que tratam os dominados como vítimas e aqueles que os consideram heróis. Estamos condenados a caminhar na corda bamba entre estas duas armadilhas? Podemos encontrar o tom certo para falar dos trabalhadores?
AE
Esta será sempre uma questão em aberto. A linha entre as duas armadilhas é extremamente tênue. O Fim de Eddy levantou esta questão, mas o problema não está neste trabalho em si. Se Louis tivesse escrito a mesma coisa sobre pessoas que não eram seus pais, a recepção teria sido diferente. É por isso que ele está sendo criticado, pelo que ele disse sobre sua família. Tive a mesma experiência com Les Armoires vides.
Esse tipo de crítica veio em particular dos jornais comunistas: “Ela está atacando as próprias pessoas que a permitiram estudar”. Então, será que podemos encontrar o tom certo? Foi dito que o encontrei quando falei sobre meu pai em O Lugar, mas não tenho certeza se encontrei o tom certo. Talvez depois eles descubram que eu não achei o tom. Depende da época em que o critério é feito.
MCM
Durante o processo de escrita, você considera as possíveis acusações de miserabilismo? Você pensa na maneira correta de falar dos trabalhadores, ou é apenas uma questão que a sociedade lhe impõe, que vem de fora?
AE
Não é uma pergunta fácil… Situo minha escrita no presente, em relação ao meu tempo. Sou obrigada a considerar as crenças de minha época, a me situar em relação a elas. Faço isso de forma mais ou menos consciente. Não é a primeira coisa em que penso quando escrevo, mas está lá, implicitamente. Em [A História de uma Garota] escrevo sobre o final dos anos 1950 e o presente. Entre as duas, a sociedade passou por uma revolução sexual total. O que se espera das meninas, das mulheres, mudou completamente.
Não pude deixar de refletir sobre isto, e claramente abordei esta questão em vários pontos do livro. Em “Regarde les lumières mon amour”, falo muito de mulheres dissimuladas a fim de mudar a visão do leitor sobre elas, no contexto de uma sociedade francesa que atualmente é muito hostil a elas. Portanto, em meus escritos, há sempre este aspecto atual.
Temas
MCM
Seu trabalho dá uma certa dignidade a fenômenos geralmente ignorados pela literatura, como o aborto, a violência doméstica, as multidões anônimas nos transportes públicos e os clientes dos supermercados. Essa forma de minar as hierarquias literárias parece ter um significado político. Como você vê a relação entre a literatura e o engajamento político?
AE
Quando eu tinha 20 anos, imaginava escrever, falava de escrever, “para vingar minha classe” — já era algo político, mas de uma forma mal compreendida, muito ingênua. Pensei que se a filha de um trabalhador escrevesse um romance, seja ele qual for, isso o tornaria um ato político. Não vi que, de certa forma, isso reforçaria as hierarquias culturais.
Mas passados dez anos, quando escrevi Les Armoires vides, tive em vista desvendar como as instituições educacionais participam do mundo dominante e arrancar os filhos das classes dominadas de seu mundo de origem. Naquele mesmo momento, virei professora, e senti toda a violência cultural feita a essas crianças na escola. Com este primeiro livro, eu estava escrevendo politicamente, ou seja, questionando o que vivemos e vemos. Não consigo conceber uma escrita que não envolva a mim e o leitor ao mesmo tempo.
MCM
Seu Regarde les lumières mon amour é um diário de suas idas ao centro comercial Trois-Fontaines em Cergy, uma nova cidade que fica a noroeste de Paris. De onde você tirou a ideia de escrever sobre a superloja?
AE
As superlojas são lugares que me fascinam. Talvez venha de minha infância, de uma familiaridade com o que meus pais, donos de mercearia, chamavam de “a clientela”, e que para mim era uma comunidade de pessoas, com suas histórias, com seus meios financeiros muitas vezes escassos. E também, uma certa familiaridade com a “mercadoria” que preenchia todo o espaço, ou quase todo o espaço, da casa com as coisas. Daí uma perspectiva — carregada de memória infantil — sobre os espaços comerciais cuja transformação vivi, desde os anos 1960 até hoje, desde a pequena loja de autoatendimento até a superloja de muitos metros quadrados de área.
Eu os considero realmente como lugares de memória e lugares de vida. É aí que entra o compromisso político: recusar o imaginário burguês-boêmio e elitista que deprecia as grandes lojas, que não as acha interessantes.
“O alvo deles não é este objeto em si; é a multidão que os perturba, as pessoas que eles encontram — o contato próximo e promíscuo.”
Em Paris, há principalmente supermercados menores, como o Monoprix, que, tendo antes encarnado a parte inferior do mercado, são agora muito chiques. A superloja é uma realidade nas províncias e nos subúrbios. Este livro [Regarde les lumières mon amour] representa, é claro, uma obra auxiliar, inspirada na obra de Pierre Rosanvallon, mas tem o sentido de uma reação política a um imaginário de desprezo, de uma reabilitação de um espaço frequentado por todas as classes sociais. Não sei se fui necessariamente bem sucedida. Mas tem sido muito lido.
MCM
Durante uma cena em frente à barraca de peixe de uma loja Auchan, você escreve: “Uma mulher negra com um longo vestido florido para na frente dele, hesita, vai embora novamente”. Logo no parágrafo seguinte, você admite que hesitou em especificar a cor da pele dela. O que você acha que este tipo de dilema nos diz?
AE
Se eu estivesse fazendo compras em uma super loja em Bamako, uma escritora do Mali me descreveria como “uma mulher branca”. Então, decidi escrever a cor da pele dessa mulher. Mas é complicado, porque as duas situações não são completamente idênticas. Na superloja atual — em 2012 [neste livro] — no contexto da época, que se tornou ainda mais difícil desde então, as pessoas vão responder imediatamente: “Ah, mas obviamente, em tais lugares, só há imigrantes ou descendentes de imigrantes”. Enquanto, na verdade, há pessoas de origem caribenha, há também franceses. Mas isso é racismo.
Em 1989, em um Auchan, uma mulher muito idosa disse em voz alta a uma jovem negra: “Ela deveria voltar para seu próprio país”. Minha reação — “Mas senhora, ela pode ser francesa!” — parecia deixá-la aturdida, ou incrédula. Veja, estas coisas não são novas. Neste contexto, falei também das mulheres que usam véu, não por serem tantas em número, mas para introduzir a legitimidade de sua escolha. Pedir para retirá-lo é um ressurgimento do colonialismo.
Estranhamente, os críticos literários têm evitado cuidadosamente mencionar este aspecto do livro. Na verdade, há algo de complicado em descrever a realidade multiétnica da sociedade atual, quer você mencione ou não a cor da pele de uma pessoa. Isto é sintomático da virada preocupante que a França está tomando.
MCM
Seus livros têm uma dimensão sociológica evidente. Você coloca sua própria vida íntima a serviço da revelação de mecanismos coletivos de natureza mais geral. Como você concebe a articulação entre a subjetividade e a sociedade? Como você garante que o “eu” não invade o “nós”, e vice-versa?
 https://jacobin.com.br/wp-content/uploads/2021/02/banner_jacobin_brasil_fev_2021-150x300.jpeg 150w" alt="" width="300" height="600" class="no-lazyload" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 300px; border: none;" />
https://jacobin.com.br/wp-content/uploads/2021/02/banner_jacobin_brasil_fev_2021-150x300.jpeg 150w" alt="" width="300" height="600" class="no-lazyload" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 300px; border: none;" />AE
Penso que esta é uma questão de postura, de distância. Significa considerar que o que me acontece — o que me aconteceu — provavelmente se situa sociologicamente, historicamente, mesmo quando parto do elemento pessoal, perceptivo, que me faz escrever as coisas. Significa sair do singular, em todos os sentidos da palavra.
Talvez seja mais fácil para os desertores de classe, que viveram em um mundo e depois em outro — para eles, mais do que para outros, sua identidade está em questão. Mesmo em um campo tão íntimo como a paixão, eu não poderia escrever a não ser de forma intimista, observando o que faço e experimentando o que experimento, como se fosse feito e experimentado por outra pessoa.
MCM
Em 1972, a leitura de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron do livro Os Herdeiros causou uma forte impressão em você. Depois de vários anos de inatividade, você se sentiu “autorizada” a escrever novamente. Você começou um projeto literário atrasado, que resultou dois anos mais tarde na publicação de Les Armoires vides. No início, portanto, há uma influência da sociologia na literatura. Quarenta anos depois, a relação se inverteu: os sociólogos estão dedicando suas pesquisas ao trabalho e à vida de Annie Ernaux. Isso a inspira?
AE
Estou feliz com isso. De certa forma, era lógico que o que vinha da sociologia voltasse a ela, mas de outra forma — encarnada, se é que posso dizer assim, na diversidade e na textura de uma vida singular, e na forma de uma verdade sentida. Meus textos não são demonstrações da exatidão da sociologia da dominação, mas trazem a ela elementos extraídos da experiência pessoal.
MCM
Algumas pessoas entrevistadas em projetos de pesquisa têm um sentimento violento de serem “objetificadas” sob a caneta do sociólogo. Em um caso extremo, alguns dizem que o sociólogo os tratou como “ratos de laboratório”…
AE
Sim, neste aspecto a vantagem do escritor sobre o sociólogo é que seus leitores são livres para se reconhecerem, ou não, em seu livro. O reconhecimento pode, no entanto, ser violento. Vários leitores de meus livros me disseram que não conseguiam dormir, que estavam abalados. Mas, para eles, foi muito libertador. E acredito que esta é a vantagem das obras literárias: você pode aceitar o que está sendo narrado, porque é outra pessoa que está se narrando, que está chegando ao fundo das questões. A análise não passa por [o leitor], mas por outra pessoa. Portanto, não há esta mesma objetificação. Esta é a vantagem dos meus livros sobre as obras puramente sociológicas.
MCM
Este tipo de testemunho — “Não dormi a noite toda — e, ao mesmo tempo, que alívio ler isto” — é a coisa mais gratificante para um escritor?
AE
É claro que é o mais poderoso. É a prova de que a literatura não é inútil. Sabe, é difícil escrever. Portanto, ver que é útil para algo, para alguém, é importante. Esse senso de utilidade significa muito para mim. Fui muito influenciada por minha mãe, que sempre acreditou ser “útil”.
Para minha mãe, as mulheres em casa, especialmente as mulheres de classe média, representavam a inutilidade por excelência. Fui criada com uma espécie de mística de trabalho. É algo que nunca me deixou. Neste sentido, os testemunhos dos leitores, que mostram que meu trabalho foi útil para eles, são essenciais. Este tipo de cartas me comove muito. É algo bastante novo na sua vida: alguém que você não conhece escrevendo para você que seu livro mudou sua vida… Li testemunhos de leitores japoneses — traduzidos para mim, é claro — que disseram que se reconheceram em O Lugar e Une Femme, e em Paixão Simples também. Foi uma grande surpresa e uma grande gratificação.
Origem social
MCM
Os desertores de classe passam muitas vezes por uma situação descrita como difícil, e dolorosa: eles se sentem deslocados em seu novo ambiente e que estavam mais no lugar em seu ambiente original. Este deslocamento lhes dá uma visão privilegiada do mundo, uma inteligência social particular?
AE
Sim, muitas vezes apresentam uma visão mais aguçada e distanciada do mundo social. Mas eles também devem abraçar sua situação de desertores de classe e, antes de tudo, devem estar cientes disso e não estar em negação. De outra forma, restam sentimentos, emoções: vergonha, por exemplo, a desvalorização de si mesmo, ou, inversamente, a supervalorização do mérito individual.
Há uma frase de Jean-Paul Sartre em Questão de Método que me parece definir este desertor de classe que não está consciente de sua situação: “Num mundo de alienação, o indivíduo vitorioso não se reconhece em sua própria vitória”. O filósofo Chantal Jaquet avançou o termo “transclasse”, que é menos estigmatizador do que “desertor”, com sua conotação de traição deliberada. Essa conotação me incomodou, trinta anos atrás, quando tive que explicar o que era um desertor de classe, porque esta noção sociológica ainda não havia penetrado na sociedade em geral.
Fui obrigada a apontar que não é como se você decidisse uma manhã escapar de sua classe social; que isto é feito através de processos — sucesso nos estudos, a companhia de pessoas de uma classe social superior, etc. — que, em grande medida, não dependem de decisão e responsabilidade individual. Portanto, penso que esta mudança de vocabulário é bastante legítima.
Dito isto, mesmo antes de conhecer a palavra “desertor”, que um sociólogo me ensinou, senti minha passagem do mundo da classe trabalhadora para o mundo pequeno burguês em termos de traição. Formulei isto escolhendo, como epígrafe para O Lugar, esta frase de Jean Genet: “Eu arrisco uma explicação: escrever é o último recurso quando se traiu”.
MCM
Escrever sobre a classe trabalhadora é uma forma de preservar um vínculo com aqueles que você deixou para trás, de compensar o sentimento de traição? Podemos interpretar seus livros como uma contribuição para a memória coletiva, nas palavras de Saint-Simon, “a classe mais numerosa e mais pobre”?
AE
Há tudo isso em meus escritos, eu acho. Para restabelecer um elo que comecei a recusar em minha adolescência – odiar, por exemplo, que minha mãe tenha ostentado abertamente para a diretora do colégio interno o fato de ter sido operária durante toda sua juventude, “Você sabe, Irmã, não tenho vergonha disso”. E eu pensei, por dentro: “Mas ela não precisa dizer isso”, como se ela estivesse admitindo sua inferioridade, apesar de si mesma.
Escrever é precisamente dar-me o direito, não só de dizer isso, mas também de denunciar as hierarquias, o domínio cultural que implicitamente coloca uma mulher trabalhadora no fundo da escala social. É querer transformar a indignidade social em dignidade, é dar justiça aos dominados.
MCM
Quando você tinha uns vinte anos, você escreveu numa folha de caderno: “Escreverei para vingar minha classe”, para fazer justiça ao sofrimento dos dominados. Será que a escrita conseguiu satisfazer esta necessidade de vingança?
AE
Não, isso significaria que não existem mais sofrimentos sociais para vingar, ou que considero ter “feito o suficiente” escrevendo alguns livros. Continuo sendo habitada pela raiva e, é preciso dizer, pela impotência, diante do abismo que separa categorias inteiras da população e da ausência de uma solução política para isso. O que quero dizer é que, de todas as opções disponíveis para mim, de como aproveitar minha vida, escrever me parece ser a coisa mais completa que eu poderia fazer, indo além do singular e da família.
“Significa ser a cronista de uma história condenada à indiferença e ao esquecimento.”
Sem dúvida, quando eu era professora do ensino médio e superior, eu considerava que estava firme, quando não na origem das desigualdades, pelo menos no local de sua reprodução, e que havia uma luta a ser travada ali. Nunca dei aulas em escolas ” renomadas ” no centro da cidade, mas sempre em escolas na periferia das cidades de médio porte, e estava ciente das dificuldades envolvidas na aquisição de um idioma e códigos que não eram os de seu ambiente, como eu mesma havia experimentado.
Mas nada parecia capaz – ainda não parece possível — de abalar este sistema de seleção, que produzia pouco mais do que um ou dois “milagres” por classe. Eu diria que, de certa forma, mudei na escrita o que não poderia fazer como professora, não teria escrito os livros que escrevi, e como os escrevi — Les Armoires vides especialmente – se eu não tivesse sido professora de literatura naquelas aulas.
MCM
Em O Lugar, você diz que a morte de seu pai foi um acontecimento que lhe deu o desejo de escrever sobre sua vida, a vida dele, e “a distância que veio entre ele e eu, como adolescente”. Escrever é, então, uma forma de examinar a distância que se desenvolveu em sua família. Mas não é também uma forma de abrir essa distância?
AE
Se estamos falando da verdadeira distância com meus familiares, a escrita não a ampliou. Muito pelo contrário, porque eles sentiam que algo estava sendo reparado em suas vidas, que sua existência estava sendo reconhecida em um livro. A distância entre nós começou cedo, a partir do momento em que fui eu quem não “pegou meu certificado de conclusão de estudos”, mas continuou estudando – a distância que todos nós sentimos, e eu fui a primeira, em relação ao braçal e ao intelectual.
Mas minha família – toda minha família – estava ciente desta distância antes de mim. Eu era muito próxima de uma prima que era três anos mais velha do que eu e que, após seu certificado de conclusão de estudos, tornou-se datilógrafa, o que era uma ocupação muito estimada em comparação com a condição de colarinho azul.
Um dia — eu estava na 8ª ou 9ª série — ela me disse: “Você vai continuar seus estudos e nós não vamos mais conversar”. Fiquei chocada: “Do que você está falando?” Em última análise, ela estava certa. Nós tínhamos cada vez menos em comum. Naquela época, como queríamos compartilhar nossos gostos uma com a outra, ela me fez ler uma história que fez ela chorar. Eu me sentia apenas entediada.
Por outro lado, eu lhe havia dado um romance que eu gostava e que me tocou muito, escrito por uma inglesa, Marghanita Laski, Little Boy Lost. Ela odiou. Naquela época, eu não sabia que nossos gostos já eram induzidos por uma diferença na escolaridade e que — como confirmei ao reler este romance anos atrás — eu podia ser sensível à força literária. Aos poucos deixamos de nos ver. Ela se casou e eu fui para a universidade.
Para meus pais, o fato de eu escrever livros só confirma a disparidade criada pelos meus estudos. Para eles, tudo isso se refere ao mesmo universo, que não é o deles, e sobre o qual existe uma grande ignorância. É preciso um exemplo. Depois que recebi o Prêmio Renaudot e estive no “Apostrophes” [um talk show francês apresentado por Bernard Pivot], um outro primo meu que era enfermeiro de geriatria me disse: “Oh, você deve conhecer muita gente! Você vê Collaro?” Stéphane Collaro foi a criadora do “show Bébête”, um entretenimento que não tinha nada a ver com Pivot. Mas para meu primo, Collaro e eu éramos de um mesmo “outro mundo”. Hoje, há alguns outros parentes desertores de classe — ou transclasse —, primos em segundo grau. Com eles, eu compartilho uma espécie de dupla ligação.
Pais
MCM
Ao se tornar escritora, você forçou sua mãe a admirá-la. Isto também introduziu uma espécie de ciúme ou ressentimento em seu relacionamento, no sentido de que você realizou um sonho que sempre foi inalcançável para ela?
AE
Independentemente da diferença cultural, houve muita violência e ao mesmo tempo conivência entre minha mãe e eu. Ao longo de sua vida, até seu Alzheimer, nós lutamos.
Provavelmente tínhamos muito em comum. Escrever livros era de fato um sonho para ela, que ela me confessou, quase corando, quando eu tinha vinte e dois anos e lhe disse que havia enviado um manuscrito para uma editora: “Eu também teria gostado, se eu tivesse sido capaz”. De escrever. Mas ela tinha deixado a escola aos treze anos.
Dito isto, eu nunca senti, nem suspeitei, qualquer ciúme ou ressentimento nela sobre minha escrita. Muito pelo contrário. A coisa dominante era o orgulho, e o orgulho vinha da certeza de que era graças a ela, à sua educação — incentivando meus estudos, meu gosto pela leitura, não me criando para o casamento — que eu tinha me tornado uma escritora. Acredito que o conflito estava em outro lugar, que era de natureza edipiana, como eu o percebi na reação de minha mãe, sofrendo de Alzheimer — uma doença antissocial, onde tudo fica fora de controle — quando uma enfermeira lhe disse que eu havia recebido um grande prêmio literário, o Prêmio Renaudot.
Cito o que ela disse, como disse a enfermeira: “Ela sempre teve um jeito com as palavras! Mas não se deve dizer ao pai dela, ele está sempre de joelhos”! É importante saber que, naquele momento, faz dezessete anos que meu pai havia morrido. Minha mãe era uma mulher muito exigente e possessiva e deve ter pensado que ele me amava demais, que ele me deixava fazer qualquer coisa.
MCM
Sua mãe tinha uma espécie de devoção aos livros, que ela nunca pegava sem lavar as mãos primeiro. Seu pai, por outro lado, disse que os livros eram bons para você, mas que ele “não precisava deles para viver”. Qual é a sua própria relação com este objeto singular?
AE
Para mim, a biblioteca sempre foi o símbolo da classe educada. Os livros, assim que pude ler, foram objeto de um desejo quase insaciável. Até os 18 anos de idade, este desejo era difícil de satisfazer porque os livros eram caros e não ousamos ir à biblioteca pública – que só estava aberta, para dizer a verdade, duas horas por semana! Não era um lugar para nós. Ainda existiam livrarias, onde minha mãe me levava desde muito cedo. Ela me dava livros sempre que podia.
Como explico no Les Armoires vides, eu vivia em livros. Eles eram uma grande fonte de conhecimento e provavelmente me deram esta famosa maneira com palavras. Na verdade, esta era uma maneira com a palavra escrita, não com a fala: durante muito tempo falei como todos os outros ao meu redor, enquanto eu tentava escrever como nos livros, e as palavras nos livros pareciam maravilhosas para mim. Com uma certa crueldade e muita vaidade, algumas vezes usei algumas dessas palavras que eu tinha certeza de que as meninas da minha classe ou, pior, meu pai, não iriam entender.
Não acho que seja exagero dizer que minha vida se misturou muito cedo – tanto na realidade como na minha imaginação — com os livros em geral. Mas, precisamente por causa desta familiaridade, acho que nunca tive a mesma atitude de reverência para com eles que minha mãe teve, mesmo que durante muito tempo tenha me forçado a ler um livro que comecei até o fim, movida pela esperança de que eventualmente encontraria interesse nele e também por um respeito pelo trabalho de escrever. Hoje, não. Eu não tenho mais esse respeito incondicional.
Abandono sem hesitação um livro — muitas vezes um romance — que acho que levou muita presunção por parte de seu autor para escrever, e fraqueza por parte de sua editora para publicar. Mas aos 20 anos, eu devo ter tido a mesma presunção…
A atitude de meu pai era diametralmente oposta à de minha mãe. Ele irritou minha mãe por ler romances — “mesmo na sua idade”, disse ele. Lembro-me de seus protestos, referindo-se a mim, “ela gosta demais de livros”. Ele dizia sempre: “os livros não são realidade”, ou “não é real”. Acho que essas palavras me marcaram muito. Talvez eu quisesse escrever para mostrar a meu pai que isto é realidade. Talvez eu quisesse que a escrita fosse a realidade.
MCM
Seus livros têm anotações, estão riscados ou você cuida deles tanto quanto sua mãe?
AE
Não tanto, mas anoto meus livros com um lápis, que se desvanece. Eu não gosto de livros manchados ou de impressões digitais na capa. É por isso que sou relutante em emprestar meus livros, exceto às pessoas acostumadas a cuidar deles. Não entendo porque alguém se atreveria a devolver um livro sujo. Portanto, mantenho uma forma de respeito por este objeto. Acima de tudo, dou tanto valor ao que é um livro, que sou capaz de jogar um fora quando seu conteúdo me enoja. É um gesto simbólico: não vai mudar nada em sua circulação, mas não quero manter este livro em casa, para me tornar seu mensageiro involuntário.
Então, recentemente joguei fora o último livro de Gabriel Matzneff, seu Diário. Há alguns anos, recomendei online um romance que havia lido quando criança na casa de minha mãe, chamado La petite reine de l’impasse au Coq, publicado em uma coleção de livros católicos, do qual gostei muito. Era a história de uma garotinha da classe trabalhadora e eu me identificava muito com ela.
Lembrei de um detalhe: assim como eu, ela fez caramelo com açúcar em uma colher, colocado no fogão. Quando a reli, fiquei surpresa ao perceber que este texto dos anos 1930 estava cheio de antissemitismo do início ao fim. Eu o joguei no lixo — não na reciclagem, a propósito! Fiz isso com raiva e uma perturbação que atribuía à sensação de que, quando criança, eu amava uma história cuja ideologia me era impossível perceber na época. Como quando você aprende que o objeto de seu amor é desprezível.
Sobre o autor
MANUEL CERVERA-MARZAL
é um sociólogo na Universidade de Liège, na Bélgica.