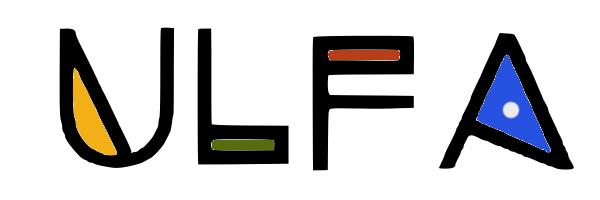A Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, é considerada um marco no enfrentamento à violência doméstica e familiar. No entanto, organizações de direitos humanos alertam que sua efetividade depende da atuação integrada entre Judiciário, forças de segurança, assistência social e políticas públicas permanentes. Sem essa articulação, decisões judiciais acabam não se traduzindo em segurança real.
A morte de uma mulher que possuía medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro, concedida pela Justiça, escancara mais uma vez as fragilidades do Estado brasileiro na proteção de mulheres em situação de violência. Carla Carolina Miranda da Silva, de 39 anos, foi assassinada na noite do último sábado (3), no bairro da Liberdade, região central da capital paulista, mesmo após denunciar o agressor e obter amparo judicial.
O crime ocorreu em via pública. O autor, José Vilson Ferreira, de 29 anos, descumpriu a decisão judicial que o impedia de se aproximar da vítima. Ele foi preso no dia seguinte, no bairro do Jabaquara, Zona Sul da cidade, e indiciado por feminicídio e descumprimento de medida protetiva. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Imagens de câmeras de segurança, que circulam na imprensa, registraram parte da ação do agressor. Para movimentos de defesa dos direitos das mulheres, o episódio reforça uma realidade conhecida, mas ainda negligenciada: a medida protetiva, embora fundamental, não tem sido suficiente para impedir a violência letal.
De acordo com dados oficiais, São Paulo registrou recorde de feminicídios em 2024, com uma mulher morta, em média, a cada 36 horas. Parte dessas vítimas, assim como Carla, já havia recorrido ao sistema de Justiça em busca de proteção. Especialistas apontam que o alto número de descumprimentos de medidas protetivas revela a ausência de mecanismos eficazes de fiscalização, monitoramento dos agressores e acompanhamento das vítimas.
A Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, é considerada um marco no enfrentamento à violência doméstica e familiar. No entanto, organizações de direitos humanos alertam que sua efetividade depende da atuação integrada entre Judiciário, forças de segurança, assistência social e políticas públicas permanentes. Sem essa articulação, decisões judiciais acabam não se traduzindo em segurança real.
O assassinato de Carla Carolina reacende o alerta sobre a urgência de políticas públicas mais robustas, investimento em prevenção, fortalecimento da rede de proteção e responsabilização efetiva dos agressores. Enquanto medidas protetivas continuarem sendo descumpridas sem resposta imediata, vidas seguirão sendo perdidas — e o direito das mulheres à vida, à segurança e à dignidade seguirá ameaçado.
Com duas décadas de Maria da Penha, Brasil ainda falha em garantir proteção integral às mulheres
Entre pedidos de reformulação da lei e alta da violência, especialistas defendem políticas públicas que executem o mecanismo legal na prática.
Às vésperas de completar 20 anos em 2026, a Lei Maria da Penha ainda não é totalmente posta em prática. Um reflexo disso é o alto número de feminicídios no Brasil em 2025, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública: 1.177 casos foram registrados de janeiro a outubro, o que equivale a 4 vítimas por dia e a um aumento de 2,35% em relação ao mesmo período no ano passado.
No dia 07/12, milhares de mulheres tomaram as ruas de várias cidades do país em um movimento nacional de mobilizações que denunciou a escalada do feminicídio. Por um lado, o cenário leva a parte da população a pleitear atualizações no mecanismo legal vigente; por outro, especialistas defendem que é preciso garantir a implementação da Lei Maria da Penha em sua plenitude.
Uma petição online, iniciada pela ativista Bárbara Penna, ultrapassa a marca de um milhão de assinaturas pedindo pela reformulação total da Lei. Bárbara, que foi vítima de uma tentativa de feminicídio em 2013, defende uma série de alterações: que o endereço da vítima seja retirado do boletim de ocorrência; a exigência de um profissional de psicologia em cada delegacia da mulher, para atendimento imediato da vítima e para averiguação de falsas denúncias; a obrigatoriedade de ressarcimento financeiro à mulher vítima por parte do réu agressor, dentre outras.
Bárbara afirma que o abaixo-assinado “nasceu da dor” não apenas dela, mas de famílias de todo o país que perderam mulheres e crianças para a violência doméstica, e das sobreviventes que seguem desamparadas mesmo após buscar ajuda.
O Sul21 procurou a organização Themis, que participou da formulação da Lei Maria da Penha em 2006, para entender se a legislação necessita de alterações para estancar esse índice crescente. Para a entidade, no entanto, o passo mais urgente é fazer valer a normativa que já existe.
“É complexo dizer que alterações [na lei] não são bem-vindas – não é sobre isso”, enfatiza Rafaela Caporal, coordenadora da área de Enfrentamento às Violências da Themis. “Mas é necessário entender qual é a efetiva mudança que essas alterações vão trazer na prática da vida das mulheres. Porque, se temos uma legislação bastante conhecida, e em 20 anos não conseguimos implementar a sua totalidade, as alterações também vão ser difíceis de ser implementadas. É preciso garantir que o que está na legislação seja cumprido”.
Quando se trata de segurança da mulher, o Rio Grande do Sul tem somente 22 delegacias especializadas e 8 postos de atendimento, sendo que apenas duas unidades têm atendimento 24h.
Já a Patrulha Maria da Penha, responsável por monitorar as medidas protetivas com maior risco, está ausente em mais de 70% dos municípios gaúchos. Mesmo assim, a Brigada Militar incluiu 10.961 mulheres vítimas de violência no programa em 2025.
O estado registrou 68 feminicídios este ano até o mês de outubro, um aumento de 19% em relação a 2024. Cinco casos foram registrados na Capital.
“A lei é muito importante e muito contundente, pois abarca as esferas da violência doméstica não apenas no sentido de responsabilização do agressor, mas também de medidas sociais e educativas para a prevenção da violência”, explica Caporal. “A questão é que muitas coisas previstas na lei não são implementadas. É preciso pensar em como garantir políticas públicas no sentido de implementá-las. Se não houver um Estado que investe em políticas de enfrentamento à violência de uma maneira ampla, um dispositivo legal sozinho não faz nada”.
Acesse a matéria no site de origem.
Nem monstro, nem doente, nem vil: a hidra da violência de gênero, por Helena Queiroz
Narrativas que transformam agressores em monstros isolados mascaram natureza estrutural e previsível da violência contra mulheres e minorias
A comoção, o inimigo conveniente e o debate que ainda não fizemos
Nas últimas semanas, mobilizações em diversas capitais brasileiras reacenderam o debate sobre feminicídios e violências de gênero. Velas, cartazes e marchas expressaram indignação diante de mortes que — longe de serem exceções — seguem em curva ascendente há anos.
Ao mesmo passo, reações em redes sociais e parte da cobertura midiática voltaram a apostar em um antagonista familiar: o monstro. O doente. O vil isolado cuja existência seria a única explicação possível para o inaceitável.
A repetição desse imaginário — que aparece imediatamente após cada caso de grande repercussão — cumpre uma função: produz um inimigo manejável, moral e individual. Mas desvia do que as estatísticas e a pesquisa acadêmica mostram com contundência: a violência é múltipla, cotidiana, previsível, difusa e amplamente distribuída entre “homens comuns”. A figura do “outro monstruoso”, ao contrário de proteger, estreita o campo de visão e impede vítimas e agressores de reconhecerem a si mesmos nos fenômenos que protagonizam.
A insistência em narrar a violência de gênero como obra de monstros impede o enfrentamento das violências que se escondem atrás da normalidade. Os arquétipos não existem.
Há décadas, pesquisas identificam estereótipos pré constituídos e persistentes sobre quem seria o “agressor típico”. Para crimes sexuais, a imagem difundida é a de homens socialmente isolados, solitários, sem vínculos afetivos e estranhos às vítimas. No caso da violência doméstica, projeta-se o arquétipo do homem forte, agressivo, explosivo e usuário constante de álcool ou drogas.
Nenhuma dessas imagens encontra respaldo empírico. Pior: são fantasias socialmente reconfortantes, não descrições sociológicas.
O “predador sexual” que ataca desconhecidas na rua é exceção estatística: quase 70% dos estupros e estupros de vulnerável ocorrem dentro de casa e são cometidos por familiares ou parceiros. O agressor é, majoritariamente, um homem conhecido — frequentemente um homem com profundos laços de afeto em relação à vítima.
Gisèle Pelicot e a falácia do “outro”
Um homem foi detido por um segurança de supermercado por tentar tirar fotos por baixo das saias de mulheres que estavam no local. Diante da ocorrência, a polícia decidiu apreender o telefone e o computador do detido. Ao analisar os bens apreendidos, descobriram uma biblioteca organizada com mais de 20 mil imagens e vídeos de 71 homens tendo atividades sexuais com uma mulher inconsciente.
Essa mulher era sua esposa, quem ele conheceu quando tinha 19 anos, e que era mãe de seus filhos e avó de seus netos. Nesse mesmo computador, foi encontrada uma pasta intitulada My naked daughter, com fotos de sua filha seminua, em claro estado entorpecente. Para além do óbvio, o caso alarmou pelo perfil heterogêneo dos demais homens envolvidos no caso.
Ao fim e ao cabo, 50 homens foram levados a julgamento. Esses homens têm idades completamente distintas, alguns são pais, alguns são avós e as profissões variam de caminhoneiros e seguranças a bombeiros e soldados. Não existia histórico de violência, abuso de substâncias, brigas constantes entre o casal e o agressor se recusa a ser entendido como alguém que sentia ódio em relação à vítima.
Ao contrário, durante todo o julgamento, Dominique repetidamente sustentou que ama profundamente a ex-esposa e sua família. O caso escancara o que políticas públicas, mobilizações sociais e a grande imprensa parecem hesitar em dizer: o agressor não é o outro. Ele é um de nós. Ele é parte do tecido social — e não sua anomalia.
Violências que não cabem na narrativa do monstro
Quando a mídia e, por extensão, a opinião pública abraçam a narrativa do monstro, criam um problema político grave: instala-se uma incapacidade coletiva de reconhecer as violências corriqueiras.
Tragédias, claro, devem ganhar espaço no noticiário: informam, educam e humanizam as vítimas. O problema é quando apenas a barbárie — e o bárbaro — recebem atenção, empurrando o pêndulo do aceitável socialmente para um extremo que distorce o fenômeno.
As vítimas não se reconhecem como tal porque ilusionam que a violência legítima, a agressão de verdade, se manifesta somente de maneira escrachada, gráfica, e não percebem que estão sendo violentadas nas ocorrências perpetradas na rotina, no cotidiano.
Fenômeno da mesma origem acontece com os agressores que não se reconhecem como causadores da violência ou sequer acham que a forma como agem está errada. Ao não se identificarem com o arquétipo do monstro construído no discurso maniqueísta, não tecem reflexões críticas sobre seus próprios comportamentos de dominação.
A violência de gênero não se manifesta apenas quando a bestialidade é explícita. Ela está presente no estupro marital, na violência psicológica, na dilapidação patrimonial e em todas as situações em que o consentimento é forçado, presumido ou simplesmente ignorado.
Aparece na divisão desigual das tarefas domésticas, nas responsabilidades de cuidado atribuídas como destino, na infidelidade compulsiva e no abuso de álcool e outras substâncias que recaem, quase sempre, sobre as mulheres ao redor. E não se restringe às parceiras românticas: atinge mães, avós, irmãs, amigas, funcionárias, colegas de trabalho — um arco amplo de relações onde a violência, tantas vezes, se disfarça de rotina ou de “traços de personalidade masculinos”.
Todas essas violências compõem a mesma estrutura que alimenta feminicídios, e a dissociação psíquica coletiva que nos impede de reconhecê-las preserva a arquitetura social que subordina mulheres.
Acesse o artigo no site de origem.