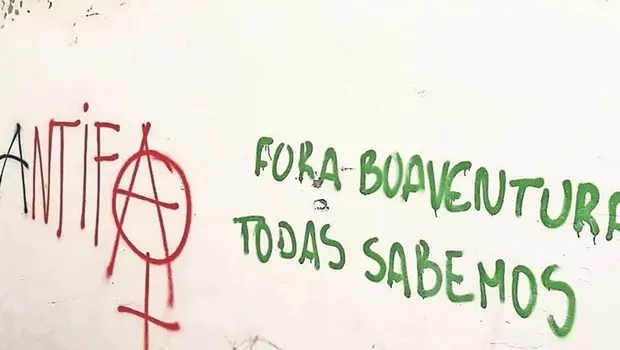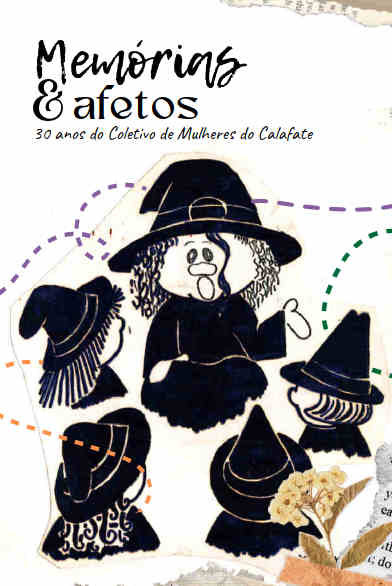Em entrevista exclusiva à Revista Casa Comum, diretor do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e da coordenação da Plataforma dos Movimentos Sociais por outro Sistema Político defende a importância de a sociedade pensar, conjuntamente, em novas formas de democracia para que o Brasil avance enquanto país.
Por Maria Victória Oliveira - REVISTA CASA COMUM
 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescentes, em 4 de abril, em Brasília (DF). Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescentes, em 4 de abril, em Brasília (DF). Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Voto nas urnas, plebiscito, referendos, iniciativas populares e audiências públicas são diferentes formas de participação previstas na Constituição Federal brasileira para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros ou naturalizados.
Apesar de todos e todas serem iguais perante à lei, sem distinção de deveres e direitos, na prática há incidência de diferentes fenômenos com raízes históricas, como o racismo estrutural, que impedem que a população negra, por exemplo, consiga acessar os mesmos espaços e possibilidades de participação que a população branca, o que, invariavelmente, produz e aprofunda as diferenças entre esses dois grupos.
Diversos especialistas afirmaram, na última edição da Revista Casa Comum, que uma democracia que produz desigualdades e na qual os direitos chegam de forma diferente para determinados grupos da sociedade é uma democracia incompleta, ou insuficiente.

Em fevereiro deste ano, a Organizações em Defesa dos Direitos e Bens Comuns (Abong) promoveu o Seminário Nacional Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e participação popular. José Antonio Moroni, integrante do colegiado de gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e da Plataforma dos Movimentos Sociais por outro Sistema Político, foi um dos convidados da mesa Participação Social: Aprendizagens, Desafios e Possibilidades, durante a qual comentou que, no Brasil, o bolsonarismo e a direita fascista colocaram a esquerda e os movimentos sociais em uma posição de defesa de uma democracia liberal, mesmo que, historicamente, a esquerda sempre tenha defendido a construção de uma outra democracia.
Para aprofundar a conversa e entender o cenário que o país se encontra quando o assunto é democracia, participação e seus diferentes formatos, bem como o que é necessário para alcançarmos outro contexto de democracia, a Revista Casa Comum conversou com José Moroni.
Confira a seguir os destaques do bate-papo.
Revista Casa Comum: Considerando o formato de democracia que temos hoje, como chegamos até aqui?
José Moroni: Na época da Assembleia Constituinte em 1986 – convocada por um governo eleito indireto -, alguns movimentos defendiam que ela deveria ser exclusiva e soberana, com outro processo de escolha da representação, que não aquele processo exclusivo via partido e com as regras do período da ditadura. Nós perdemos aquele debate, o que deu uma configuração à Constituinte, com um grande pacto que deixou muita gente de fora, como o povo negro. É por isso que temos poucos instrumentos legais de poder para o enfrentamento do racismo. Então os camponeses, povo negro, as feministas, os pobres, os periféricos, todos esses não foram chamados para esse pacto.
Do ponto de vista dos direitos individuais e sociais, a nossa Constituição apontava para a construção de um estado de bem-estar social, mas quando se pensava nos mecanismos de poder, do sistema político, econômico, de justiça, da propriedade e também dos aparatos de segurança do Estado, ia para outra direção. Apesar de ter avançado muito com relação ao que tínhamos antes, a Constituição Federal de 1988 foi gestada dentro de um pacto dos mesmos, da branquitude. Claro que teve todo um movimento da iniciativa popular, mas o campo popular estava fora daquela negociação, não estava naquela mesa para decidir. Isso nos deu um formato de democracia muito limitada.
Revista Casa Comum: Como podemos entender esse cenário que você chama de democracia limitada?
José Moroni: Nós ainda não conseguimos alcançar a democracia liberal ou a democracia eleitoral. Nós temos as eleições, que geralmente são limpas. Apesar de questões como compra de votos, temos uma justiça eleitoral atuante e a conquista das urnas, mas no processo de escolha da representação, ainda não atingimos a democracia eleitoral. Por exemplo: temos mecanismos internos do processo eleitoral e dos partidos que fazem com que tenhamos 15% de mulheres e 25%, talvez um pouco mais, da população negra no parlamento. Então não alcançamos a democracia eleitoral porque aqueles que estavam de fora do pacto ainda continuam [de fora], e quando eles conseguem acessar esses espaços, é muito mais na exceção do que na regra. Nós temos o caso de uma mulher negra e poderosa, como a Benedita [Benedita da Silva, reeleita deputada pelo PT-RJ], mas é uma exceção.
E a mesma questão acontece com a democracia eleitoral. Quando nossas elites têm seus interesses contrariados, elas abandonam essa democracia eleitoral e dão o golpe. Só para ter uma ideia: esse período da eleição de 1989 de Fernando Collor até o golpe de 2016, foi o maior período da nossa história de respeito ao resultado eleitoral. Então estamos falando de qual democracia? Democracia com quem e para quem? Uma democracia que não tem povo não é democracia.
Revista Casa Comum: Quais são os principais debates apresentados pela Plataforma dos Movimentos Sociais por Outro Sistema Político frente a este contexto?
José Moroni: No âmbito da Plataforma, nós debatemos sobre como romper as estruturas e pensar outros processos democráticos, mais descentralizados, com outras instituições democráticas, e democratizando também o que nós já temos: o sistema de justiça precisa ser democratizado, os aparatos de segurança do Estado precisam ser democratizados, as forças armadas, as polícias militares, a nossa representação, todo esse movimento tem que gerar outro modelo democrático. Porque mesmo se a gente tivesse alcançado a democracia eleitoral e a democracia liberal, esse sistema está sendo muito questionado e não consegue fazer o que se propõe de representar os diferentes interesses. Essa democracia está em crise no mundo.
Revista Casa Comum: De forma geral, existem muitas e diferentes formas de participação. Como podemos definir a participação institucionalizada?
José Moroni: Quando falamos da participação institucionalizada, é aquela que se dá no âmbito do Estado em estruturas do próprio Estado. Geralmente é muito mais no âmbito do Executivo; no Legislativo tem pouca com as audiências públicas e no sistema de Justiça menos ainda. Quando, lá no processo constituinte, a gente debatia como democratizar o Estado, que era uma grande questão, foi que surgiu todo esse processo que chamamos de participação institucionalizada, com a participação incorporada como um direito e um princípio na Constituição que deve nortear todas as políticas.
Na prática, norteia muito mais as políticas sociais e quase nada as políticas econômicas, a política externa, de infraestrutura e de desenvolvimento, mas há esse princípio da participação. Foi a partir dele que surgem os conselhos e conferências, por exemplo, e também a partir de experiências anteriores ao processo constituinte, como eram os conselhos populares, um movimento grande no Brasil que reunia diversos outros movimentos, como as associações de moradores, de bairros, a ala progressista das igrejas, clube de mães, de jovens, o movimento negro. Todas essas várias formas de organização se reuniam no conselho popular, que mais ou menos traçava a estratégia em relação ao que hoje nós chamamos de incidência nas prefeituras, que eram estruturas no nível do município. Esse movimento todo deu origem, depois, ao que chamamos hoje de conselhos de políticas públicas com esse perfil de sociedade e governo, alguns paritários, mas nem todos.
Revista Casa Comum: E quanto a participação social e popular? Como diferenciá-las?
José Moroni: O que vou colocar agora sobre essa diferença não é consenso. O conceito de participação social vem dentro de um movimento mundial que era a questão da chamada participação e fortalecimento da sociedade civil. Essa era uma fala muito forte nos organismos da ONU [Organização das Nações Unidas], no próprio FMI [Fundo Monetário Internacional], no Banco Mundial etc. Isso estava dentro do movimento político e dentro de uma conjuntura política que era a questão da desresponsabilização do Estado nas questões sociais, meio que naquela pegada de Estado mínimo para alguns e para algumas, não para todo mundo. Esse conceito de participação social deu origem a vários formatos de conselhos, por exemplo, como a questão de ter representação de empresários do setor privado, com uma configuração tripartite. Essa é uma questão importante do conceito da participação social, que é ter espaços institucionalizados com essa configuração: Estado, sociedade civil e empresariado. Como empresas e empresários têm muito poder, criar um espaço público onde eles minimamente estejam ali para apresentar suas agendas é importante. Isso não impede que façam política em outros espaços, como todo mundo, mas é algo importante dentro da participação social.
O que eu chamo de participação popular são as formas autônomas que nós, enquanto organizações e movimentos que querem um outro processo democrático e queremos ampliar os direitos e enfrentar as desigualdades, ou seja, que defendem o campo de direitos humanos, nos organizamos e fazemos as nossas incidências, seja nas marchas, nos protestos, nos diálogos, nos debates, produzindo estudos, fazendo formação política baseada na educação popular. Então é a forma como esse campo que quer enfrentar as desigualdades, entre elas a questão do racismo e do patriarcado, nos organizamos de forma autônoma em relação ao Estado, às igrejas etc.
Revista Casa Comum: Quais ações e/ou adaptações podem ser feitas para que conselhos e conferências cresçam em importância e proporção e contem com a participação de mais pessoas? Quais são as possíveis estratégias para que mais pessoas conheçam esses dois espaços de participação?
José Moroni: Eu acredito que, primeiro, precisamos reconhecer que esses espaços, sejam as audiências públicas, os conselhos, as conferências e ouvidorias externas, tiveram uma importância enorme em relação a duas questões: uma delas é a construção de políticas públicas. A partir da Constituição, todas as políticas públicas consistentes que foram construídas foram a partir desses espaços também. E o outro ponto é o reconhecimento dos diversos sujeitos políticos que devem estar atuando na construção dessas políticas. Então tem conselho da cidade debatendo o direito à cidade, de segurança alimentar abordando a questão da soberania alimentar, o conselho da igualdade racial, da Assistência Social… Então foi um conjunto de espaços, – que, geralmente, é o conselho e as suas conferências – que foi dentro do processo de construir políticas públicas de Estado que devem ser de Estado e o reconhecimento de quem tem que estar atuando na definição, na formulação dessas políticas públicas. E no momento, por exemplo, pós-golpe contra Dilma e no governo Bolsonaro, algumas organizações tomaram a decisão de sair desses espaços. O Inesc, do qual eu participo, tomou essa decisão, e outras tomaram a decisão de ficar e fazer a resistência de dentro. Tiveram um papel importante tanto as que saíram, fazendo a crítica de fora, como as que permaneceram. Esses espaços são fundamentais. Só que algumas pessoas, entre elas, eu, acreditam que esse formato está batendo no teto e precisa avançar. Não é acabar e esquecer isso, mas nós temos que ir para outro lugar, que não sabemos ainda o que é. Mas não podemos desconsiderar ou fechar os olhos para o fato de que esses espaços reproduzem, e muito, aquilo que nós tanto criticamos, por exemplo, no Parlamento: a subrepresentação do povo negro, das mulheres, dos jovens.
Subrepresentação nos espaços de participação
José Moroni comenta sobre a dificuldade da falta de disponibilização de dados sobre a participação quanto a gênero e raça, por exemplo. Ele cita a pesquisa Arquitetura da Participação Social no Brasil Contemporâneo: avanços e desafios, uma iniciativa do Instituto Pólis em parceria com o Inesc. O material conta com um mapeamento sobre os espaços participativos federais nos anos do governo Lula, com análise de dados coletados em relação às conferências e aos conselhos nacionais.
“Era gritante, por exemplo, que nos 71 conselhos nacionais que o estudo mapeou, não tinha informação da participação do ponto de vista de gênero. Então nós tivemos que fazer uma garimpagem pelo nome. E, ao mesmo tempo, tem muitos nomes que podem ser tanto de homens como de mulheres; nós ficamos sem saber. Pelo o que conseguimos identificar, eram quase 59% de homens e 20% de mulheres nesses espaços. A questão racial não tinha como saber.”
Revista Casa Comum: Muito se fala que esses espaços foram esvaziados no último governo. Mas, para além das decisões político partidárias, a configuração desses espaços é propícia para a participação?
José Moroni: Tem uma questão que é o desenho, a arquitetura da participação. Somos um país continental, com realidades totalmente diferentes. E nós pensamos um mesmo modelo para todo mundo, para uma cidade como São Paulo e para uma cidade de dois mil habitantes. Temos que pensar essa arquitetura da participação mais descentralizada, não algo tão verticalizado, rígido, engessado, um formato único como é hoje, mas mais descentralizado que possibilite mais participação. Eu acredito que é necessário deixar que os processos políticos dos territórios definam como vão se organizar. Claro que precisam ter diretrizes e orientações. Mas talvez pensar mais em formas de plenárias, uma coisa mais aberta à sociedade, porque esses espaços também acabaram se desenhando como de representação: o representante da sociedade civil é eleito, mas quais são os mecanismos disponíveis para a construção dessa representação? É o mesmo dilema do Parlamento. Nós temos que começar a romper isso, pensar em outros formatos.
Revista Casa Comum: Que novos formatos são esses? Existem debates em andamento sobre novos formatos de participação?
José Moroni: Acho que uma das possibilidades, pensando nessa questão da participação institucionalizada e nessa arquitetura que temos hoje, é em relação a formulação e deliberação da política pública. Na nossa cabeça, o importante era – e ainda é – deliberar a política pública, e uma vez deliberada, ela iria acontecer. Só que é mais complexo que isso. A sociedade tem que estar nessa deliberação, com certeza, mas temos que pensar mecanismos de participação lá no território onde as políticas públicas estão chegando. Como é a participação, por exemplo, em um posto de saúde? Se até agora falávamos sobre a deliberação e formulação da política pública, pensar na dimensão de onde ela é uma mudança de olhar. A participação envolve uma questão de escuta. Aquele profissional que está lá no posto de saúde precisa estar disposto e ter as condições para escutar o que a Dona Maria está falando. Também podemos pensar na questão das escolas, dos equipamentos na área da assistência, a própria questão, por exemplo, socioeducativa de adolescentes em abrigos de crianças e adolescentes. Isso é uma mudança muito radical na questão do poder. Toda essa conversa, na verdade, é sobre poder. Se pensamos nessas estruturas, onde chegam as políticas e a escuta, isso envolve outra concepção de construção de poder, que é difícil.
Revista Casa Comum: Nessa outra concepção de construção de poder, trazendo para o pacto aqueles que ficaram de fora anteriormente, qual é a importância de movimentos de base e de mulheres, do movimento LGBTQIAP+, de povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, na construção das possibilidades de participação que temos hoje?
José Moroni: Uma questão super importante são os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. Eu acharia fundamental olharmos para os processos de participação e de organização que esses povos têm. É outra lógica e formato.
Temos que dar um salto em relação à construção da democracia para conseguir criar espaços reais de comunicação e de diálogo sem hierarquia com esses povos, ou não vamos conseguir sair desse lugar, porque a nossa mentalidade e formação política está muito formatada para chegar até onde a gente chegou. E nisso também estou falando da questão geracional. Eu sou um homem branco, de 61 anos, de classe média. Isso formata o meu pensamento político. Só que eu acredito que precisamos criar espaços de diálogo, sem hierarquia, uma estratégia maior de construção de um campo político de diálogo, no qual possamos formular novas sínteses políticas, retomando a conversa sobre o pacto lá do início. Aquele pacto, mesmo que aos trancos e barrancos, conseguiu nos trazer aqui. Para nos tirar daqui, tem que ser um pacto de todo mundo.
Revista Casa Comum: Você avalia que ainda estamos longe desse contexto, de um pacto nacional?
José Moroni: Infelizmente acredito que ainda estamos longe. Mas acho também que só vamos conseguir isso na hora que mudarmos a nossa forma de olhar as coisas. A partir do diálogo, precisamos entender que tudo está interligado. Para sair do local onde estamos, precisa estar todo mundo junto. É isso que eu chamo de pacto. Temos toda uma questão de reparação, de um passado que precisamos resolver.
Acredito que vamos chegar, sim, nesse outro lugar, mas para isso precisamos romper com algumas coisas, como essa concepção de poder, de hierarquia das nossas lutas, e de que tem uma luta geral e as outras são específicas, que há uma minoria que nunca foi minoria. São coisas que precisamos romper e avançar, mas, para isso, precisamos pegar um tranco mais forte, e será um conflito. Não há como conciliar com nosso passado escravagista ou com o patriarcado. Essa questão da ruptura é fundamental nas nossas estratégias. Senão, entra na conciliação e, em todo o processo de conciliação, quem tem mais poder vai jogar suas cartas e vai predominar.
fonte: https://revistacasacomum.com.br/uma-democracia-sem-povo-nao-e-democracia-afirma-jose-moroni/



 419
419