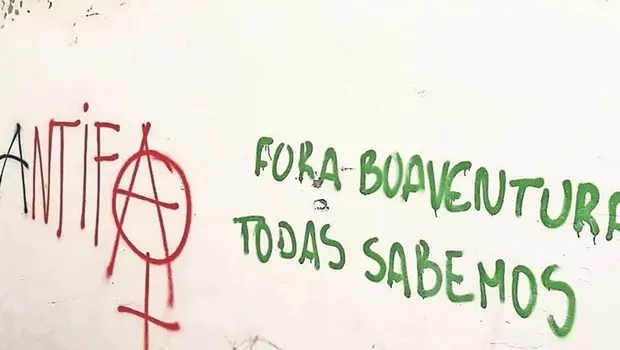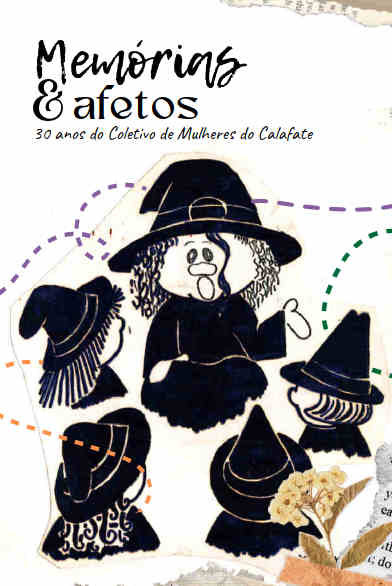Na região oeste do Pará, elas estão se organizando e desafiando normas para garantir sustentabilidade nas comunidades

As águas do rio Amazonas moldam o dia a dia dos moradores da comunidade quilombola de Arapemã, na área de várzea do município de Santarém. Durante boa parte do ano, a vida é no alto, nas casas elevadas, nas marombas, adaptadas à dinâmica hídrica do inverno amazônico. De julho em diante, quando o verão chega, as pequenas plantações familiares de macaxeira, jerimum, mandioca vão ocupando vários espaços da localidade, abrindo uma nova perspectiva de subsistência em paralelo: a pesca, que possui papel central na alimentação e na geração de renda de quem vive ali.
Arapemã é uma comunidade fértil, mas também diretamente impactada pela erosão provocada pelo fenômeno das terras caídas, que ano após ano, vai levando para o fundo do rio parte do território. A navegação ininterrupta dos grandes navios, sobretudo cargueiros que partem da Amazônia para outros países, provoca grandes ondas à margem, favorecendo o desgaste do solo. Atrelada a isso, a pesca predatória feita por pescadores invasores que não respeitam as normas de convivência e preservação da área, o desmatamento na beira do lago e as queimadas acentuam os desafios enfrentados naquela região.
"As pessoas vêm de outras localidades ou ainda de bairros da periferia de Santarém para dentro do nosso lago. Fazem arrastão, pesca predatória, pegam os peixes melhores e os menores jogam na beira e não dentro da água para que continuem crescendo. Fazem fogo no beiradão e deixam as fogueiras acesas. Quando a gente dá, o fogaréu tá se alastrando na frente da comunidade, se espalhando no capim seco e nas folhas, quase chegando nas casas e nas rabetas que ficam no meio do muri e que são usadas pelos nossos comunitários. Isso já aconteceu várias vezes. É uma preocupação muito grande na comunidade - e se acontecer isso quando estivermos dormindo? A gente luta pela preservação, pelo território para que as pessoas deixem de fazer esse tipo de coisa, só que ninguém vem aqui pra ver, mas precisamos seguir em frente". O relato é da liderança Ana Cleide Vasconcelos, cantora, compositora e atual coordenadora do Grupo de Mulheres 'Na Raça e na Cor', iniciativa criada dentro do Movimento Negro Quilombola de Santarém.
Ana Cleide, como é conhecida, tem uma história de luta e resistência. Na infância, foi morar com uma família que prometeu estudos e uma criação para que fosse "gente de verdade". No entanto, esse período foi marcado pela discriminação e racismo por parte daqueles que deveriam ser seus benfeitores. Somente na adolescência teve a oportunidade de sair dessa situação passando a residir na capital Belém. Lá conheceu pessoas que a trataram muito bem e lhe proporcionaram acesso a educação e a conhecimentos que a moldaram para a vida. Depois de uma trajetória de viagens, aos 20 anos retornou ao quilombo do Arapemã, onde fixou residência e formou família. Tornou-se ativista quando passou a ver muita coisa acontecendo na comunidade, situações que despertaram o sentimento de inquietude e luta.
"Via o meio ambiente degradado e ninguém fazia nada, ninguém se interessava. Via mulheres quilombolas que sofriam muitas coisas, principalmente o racismo e isso foi me incomodando. Comecei a participar dos movimentos em Santarém e nas comunidades. Ouvi o relato do nosso povo negro, a falta de politicas públicas, de educação, de saúde, de saneamento básico. Criamos o grupo Na Raça e na Cor e passamos a discutir sobre meio ambiente, sobre a invasão dos lagos, sobre as queimadas. O povo precisava de socorro, de ajuda e comecei a frequentar órgãos para que a gente pudesse frear essas situações", contou.
Leia também: Mercúrio e saúde pública: Santarém e o dilema do perigo invisível
A ativista, que é casada e mãe de três filhas, conta que a família a apoia na sua atuação. Ela destaca que uma mulher que luta pela Amazônia, enfrenta muitos desafios. Ao longo da jornada essas lideranças femininas são discriminadas e muitas das vezes desacreditadas e desestimuladas. Para ela, a mulher luta porque tem garra para isso, porque é teimosa.
"A gente encontra muitas dificuldades. Os desafios são grandes e não temos recursos para chegar em alguns locais. Mas não desistimos, fazemos um trabalho de formiguinha e vamos vencendo. Nossos companheiros de luta estão espalhados por vários territórios e pelo mundo e precisam da gente, do nosso apoio, principalmente as mulheres. Nosso trabalho é importante. O mundo precisa da nossa garra e do nosso empoderamento. Precisamos lutar muito para que nossos filhos e netos tenham uma vida digna, de respeito, sem preconceitos e sem discriminação. É isso que desejo sempre".
Em 2022, Ana Cleide recebeu a Medalha Padre Felipe Bettendorf, uma das maiores honrarias da cidade de Santarém e conferida por ocasião do aniversário de fundação da cidade. O intento é dado às pessoas que se destacaram em seus campos de atividades ou ainda que tenham prestado relevante serviço. A liderança foi homenageada por sua história de vida, luta e dedicação em prol da sua comunidade, onde contribuiu para a implementação de várias políticas públicas. A ativista também é cantora e compositora e através de suas letras e canções vem destacando a luta do povo quilombola na região.
A liderança da aldeia
Na Floresta Nacional do Tapajós (Flona Tapajós) o ativismo e a defesa do meio ambiente sempre estiveram presentes na vida de Marilene Rocha, indígena da etnia Munduruku. Ela reside na Aldeia de Marituba, um dos dois territórios indígenas reconhecidos dentro da Unidade de Conservação no município de Belterra, e aprendeu desde cedo com o pai, o Cacique Fortunato Rocha, a importância de se envolver em movimentos sociais e lutas.
Marilene narra que já aos 12 anos acompanhava a liderança indígena nas mobilizações que resultaram anos depois no reconhecimento da região como área de preservação ambiental da Flona Tapajós. A experiência a levou a se engajar em um grupo de jovens e nas atividades promovidas pelo Projeto Saúde e Alegria que fomentava a organização comunitária, a comunicação, o teatro e a educação. Quando não estava nas ações e na escola, ajudava a família no roçado, na coleta do látex no seringal, na pesca e na produção de farinha.
Leia também: Povo Avá-Guarani luta pelo território em resistência ao marco temporal e agrotóxicos no Paraná
"Meu pai sempre foi muito de participar de movimentos, de reuniões, de representar a aldeia e isso foi socializando algo para a minha vida, do que era melhor para mim. Com o tempo passei a participar de muitos encontros, representando os jovens, as mulheres. Formei família nova e com 16 anos tive meu primeiro filho, uma realidade que é bem comum em muitas comunidades, as meninas se tornando mãe cedo. As coisas acabaram mudando na minha rotina e tive que conciliar. Sempre que aparecia alguma oportunidade meu pai me incentivava e foi assim quando apareceu o magistério indígena. Levava minha filha pequena para assistir às aulas e não desistir dos estudos e valeu a pena. Em 2009, substituí uma professora e novas portas se abriram na minha vida", contou Marilene.
Na educação além de encontrar um novo caminho, ela estabeleceu uma conexão com a sua própria ancestralidade, passando a trabalhar na sala de aula os conhecimentos dos antigos, a cultura, a língua e a preservação da floresta. Fora do ambiente escolar acabou se deparando com a perda de identidade de muitos jovens, a falta de protagonismo feminino e a ausência de uma perspectiva de geração de emprego e renda no território.

"Vivemos numa reserva indígena e temos que lutar pelo que é nosso, pela defesa da Amazônia. Temos que usar a floresta de forma consciente porque é dela que tiramos os alimentos, sementes, as fibras, os remédios tradicionais e caseiros. Nosso desafio atual é fazer com que os jovens e as mulheres entendam que podemos desenvolver tudo isso na nossa aldeia de maneira sustentável. Sei que como indígenas somos bastante discriminados, mas não devemos ter vergonha da nossa origem. Quando lutamos de forma coletiva nós melhoramos a vida no nosso território", diz.
Após a pandemia, a vida de Marilene tomou novos rumos. Motivada a proporcionar um futuro melhor para aqueles que residem na aldeia de Marituba, ela se engajou ainda mais em eventos com temática indígena, tendo participado de marchas em vários estados do Brasil. Essa troca de experiências acabou despertando uma necessidade maior de buscar soluções para fortalecer e motivar as mulheres, quase sempre coadjuvantes no ambiente da aldeia.
"A luta não é fácil. Sei que muitas delas lidam com várias formas de violência, por isso tento me aproximar, compartilhar o que aprendi. Juntas vamos somando conhecimentos e lutando por um futuro melhor. Meu sonho é que a voz feminina que ouvimos ecoar em outros lugares também seja ouvida daqui da Amazônia. Comecei a luta com meu pai e espero conseguir empoderar cada vez mais mulheres, para que elas possam defender nosso povo, nossas origens. O que aprendi ao longo da vida é que somos capazes de assumir qualquer posição, lutar e mudar nosso caminho", enfatizou Marilene.
A poetisa do assentamento
A vida é um assentamento da reforma agrária nem sempre é fácil e essa rotina longe dos centros urbanos e de políticas públicas essenciais, a agricultora familiar Selma Ferreira conhece bem. Moradora de uma área de assentamento no PA Moju, no município de Mojuí dos Campos desde a década de 80, a sua história se intercala com as mudanças e o desenvolvimento que aquele território às margens da BR-163 – Rodovia Santarém/Cuiabá passou.
Criada pelos avós paternos porque a mãe a abandonou aos oitos meses, junto com dois irmãos pequenos, a assentada ligada ao ativismo ambiental e feminino e entusiasta dos sistemas agroflorestais, tem uma trajetória de desafios, resiliência e perseverança. Sua jornada de luta começou aos 14 anos quando veio da região Sul para morar na cidade de Santarém, em uma região totalmente diferente da sua terra natal. Aos 18 anos casou e no ano seguinte ficou grávida da sua primeira filha. Cursando o segundo ano do magistério, percorria seis quilômetros para chegar na escola e, sem condições financeiras e depois de um período doente, acabou desistindo da sala de aula. Não tardou para o segundo filho chegar e com essa nova situação acabou se mudando para a área que viria a se tornar anos depois, o assentamento.
"De 1988 a 1996 era muita caminhada, 12, 13 quilômetros para chegar na BR 163, tudo isso para pegar um ônibus com destino a Santarém, sendo que só íamos chegar no outro dia por causa das estradas. Era muita resistência, uma vida muito difícil, foram 20 anos da minha vida de sofrimento, ainda mais com as crianças pequenas e a gente tendo que trabalhar na roça com meu marido. A educação das crianças era longe e difícil. Aprendi a usar as plantas medicinais, sendo que não fui criada com isso, porque não era da minha família fazer remédios caseiros, de rezadona. Aprendi a usar por conta da necessidade e pela partilha de conhecimento das pessoas", relata Selma.
Leia também: Marcha das Margaridas: campanha online busca doações para manifestação histórica em Brasília
Com um marido bastante tradicional, a liderança viveu muito tempo injustiçada sem direito de falar. Nesse ambiente submisso o amor pela escrita acabou sendo seu refúgio. Selma conta que, talvez pela necessidade de se comunicar, seus melhores amigos eram uma caneta e um caderno. Nas páginas ela relatava tudo o que achava injusto, seus sonhos, suas poesias. A agricultora faz uma analogia da sua vida com o desabrochar da roseira, que após sentir o sol e a chuva, se tornou mais forte e resistente.
"A mulher na Amazônia enfrenta muita coisa. Descobri a necessidade de arregaçar as mangas, de ir em busca de lutar pelo território, pela alimentação saudável na mesa, pelo empoderamento das mulheres, pela agroecologia em combate ao agronegócio. São tantos desafios, que às vezes somos uma gotinha de água no oceano. A gente luta, luta e parece que não fizemos nada. É como se tivéssemos gritando e ninguém estivesse ouvindo. É desafiador, não é fácil lutar por algo que é para benefício de todos, mas precisamos fazer nossa parte porque entre as descobertas e desafios, tem as conquistas", destacou Selma.
A liderança integra a Associação das Mulheres Rurais Intermunicipal (Amabela). Como Ama, nome dado às associadas da entidade, Selma tem vivenciado novas oportunidades construindo uma história totalmente diferente. Para ela um dos momentos mais marcantes foi a conquista do Fundo Autônomo Luzia Dorothy do Espírito Santo, voltado ao fortalecimento de projetos coletivos de mulheres da região do Baixo Amazonas. A ação visa a igualdade de direitos, através da promoção da autonomia de mulheres e suas organizações, o que é feito por meio do apoio a iniciativas produtivas e de articulações políticas coletivas. O nome do fundo homenageia a líder sindical Luzia Fati, a religiosa Dorothy Stang e a defensora da Amazônia Maria do Espírito Santo.
Outro desabrochar da entusiasta dos sistemas agroflorestais e dos movimentos de mulheres que atuam pelo desenvolvimento sustentável e defesa dos territórios foi a conquista das feiras, um sonho antigo das integrantes da Amabela, uma vez que essa dinâmica favoreceu a geração de renda para muitas agricultoras familiares.
"Era o sonho de cada uma ter seu dinheiro e de muitas delas de deixar de serem submissas aos seus companheiros. Com a chegada das feiras realizadas com o apoio da Ufopa, começou um ciclo de economia solidária que nos fortaleceu. Aprendemos a botar preço nos produtos, a organizar, foi muito legal chegar na universidade. Mulheres da área rural que nem sequer sabem falar direito ocupando espaços nas feiras, que também foram para as praças de Santarém, para Alter do Chão. Mulheres que estão mostrando que a macaxeira, o tomate, o açaí, tem muito valor e que vale a pena cuidar da nossa terra. Tudo isso gerou segurança alimentar, imagina como foi essa interação entre mulheres agricultoras analfabetas com o grupo acadêmico da Ufopa", relatou Selma.
Em 2019, a pandemia do coronavírus acabou impactando não somente na família de Selma, que perdeu o marido, mas também na própria associação em que ela ocupava o posto de presidente. Foi um período de perdas, com o sítio quase acabado e as associadas distantes, a agricultora precisou se reinventar. Após o luto, ela focou na reestruturação da AMABELA, associando as filhas e novas mulheres do assentamento, tudo para fortalecer a iniciativa, que em 2022 passou a integrar um Projeto de Restauração de Sistemas Agroflorestais apoiado pelo Instituto de Pesquisas da Amazônia e a Conservação Internacional – Brasil. Hoje as mudas produzidas nos viveiros das ‘amas’ estão espalhadas em vários quintais.
"Com o SAF estou vivenciando cada folhinha que brota, a cada frutinha, levo para os meus netos e mostro a importância. Dou um jeito deles me ajudarem brincando e fazer isso ao lado das minhas filhas é muito marcante. Na luta em defesa da agroecologia, do território, das mulheres, já fui muito ameaçada. Já recebi muitas ameaças e não é fácil. Você está lutando pelo bem de todos e muitas pessoas querendo a cabeça da gente. Não podemos desistir perante as dificuldades da vida. Se entramos numa luta dessa para fortalecer o território, para cuidar do meio ambiente, das nossas árvores, da terra e dos animais, se estamos aqui é porque temos amor às famílias e à Amazônia. Nós não nascemos mulher, nos transformamos ao longo da nossa caminhada", finalizou Selma.
*Reportagem para o Programa de Microbolsas Jornalismo Tapajós, uma parceria do Laboratório de Comunicação Amazônia e do Projeto Saúde e Alegria para estimular a produção jornalística de jovens profissionais da região.
Edição: Thalita Pires



 529
529