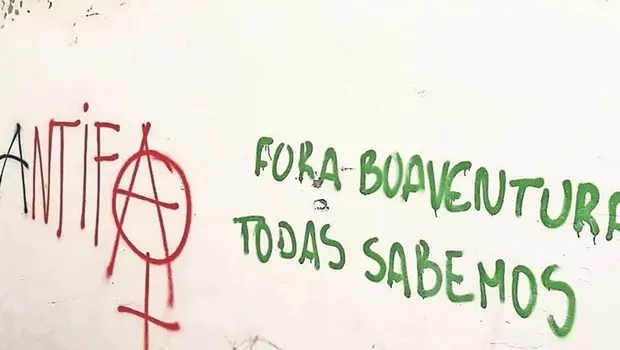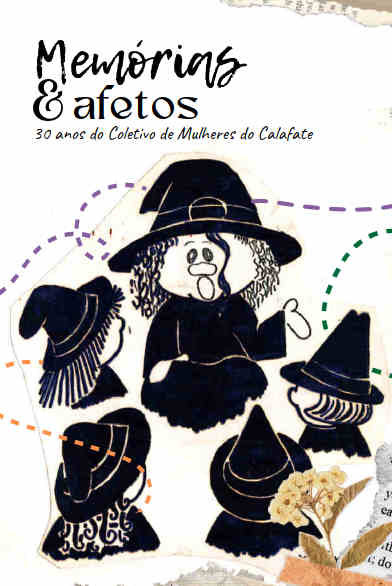Para encobrir o massacre, traçam-se paralelos patifes. Comparar a violência do escravo, em luta ou desespero, à do colonizador que o submete é propor o silêncio resignado dos oprimidos. Reflexões no Dia de Solidariedade ao Povo Palestino
Publicado 29/11/2023 às 19:49 - Atualizado 21/12/2023 às 15:39

Por Hamza Hamouchene no Africa Is a Country |Tradução: Maurício Ayer
Por qual padrão de moralidade a violência usada por um escravo para quebrar suas correntes pode ser considerada igual à violência de um senhor de escravos?
Walter Rodney
Após os ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro, que causaram mais de 1.200 mortes, proliferaram as injunções na grande mídia e entre políticos e especialistas ocidentais, impondo que qualquer um que desejasse expressar uma opinião sobre os acontecimentos e os crimes de guerra israelenses e o genocídio que ocorreram em seguida em Gaza, primeiro deveria denunciar o Hamas antes de expressar qualquer outra opinião. A não obediência explícita a isso ou qualquer tentativa de colocar os acontecimentos no seu contexto histórico ou de enfatizar as causas profundas do conflito foram interpretadas como tolerância às ações do Hamas (ou seja, que a pessoa era um simpatizante do Hamas) e confundidas com antissemitismo.
Foi como se a história do assim chamado “conflito palestino-israelense” tivesse começado em 7 de outubro e não com a Declaração Balfour de 1917, em que o governo colonial britânico anunciava o seu apoio ao estabelecimento de um “lar nacional para o povo judeu” na Palestina. Esse anúncio culminou no que os palestinos e os árabes chamam de Nakba (a Catástrofe) em 1948, concomitante com a fundação do Estado de Israel e ocorrido por meio da limpeza étnica generalizada, dos massacres e da expulsão de centenas de milhares de palestinos. Seguiram-se mais guerras, mais violência, mais matanças e mais ocupação de novos territórios. Isto levou a ainda mais desabrigados, a mais colônias ilegais e a mais bombardeios, que custaram a vida a centenas de milhares de palestinianos e forçaram outros milhões a viver como refugiados. Não vou me alongar nesta história, pois muitas fontes maravilhosas já o fizeram de maneira brilhante. Em vez disso, o meu objetivo aqui é traçar alguns paralelos com a história da luta anticolonial argelina, para mostrar a vacuidade, a miopia e a injustiça de denunciar a violência dos oprimidos/colonizados e dos opressores/colonizadores em termos iguais. Os dilemas morais, os debates sobre a violência e as divergências sobre como as pessoas oprimidas ou colonizadas devem resistir e o que podem ou não fazer não são novos.
Quando penso na Palestina, não posso deixar de traçar paralelos com o caso do meu país natal, a Argélia, durante a era colonial (1830-1962). Não é coincidência que as classes populares e trabalhadoras argelinas apoiam fortemente a causa palestiniana, uma vez que ambos os países experimentaram/experimentam o colonialismo violento e racista. Para entender o porquê, vale a pena visitar os escritos e análises de Frantz Fanon sobre o que ele chamou de “violência revolucionária” em sua obra-prima Os condenados da terra, que escreveu com base nas suas experiências na Argélia e na África Ocidental na década de 1950 e início da década de 1960. Os condenados da terra é um texto canônico sobre a luta anticolonial e serviu como uma espécie de bíblia para as lutas de libertação da Argélia a Guiné-Bissau, da África do Sul à Palestina e ao movimento de libertação negra nos EUA.
Fanon descreveu minuciosamente os mecanismos de violência implementados pelo colonialismo para subjugar as pessoas oprimidas. “O colonialismo não é uma máquina pensante, nem um corpo dotado de faculdades de raciocínio. É a violência no seu estado natural e só cederá quando confrontada com uma violência maior”, escreveu ele. Segundo Fanon, o mundo colonial é um mundo maniqueísta que, levado à sua conclusão lógica, “desumaniza o nativo ou, para falar francamente, transforma-o num animal”. Para ele, “A libertação nacional, o renascimento nacional, a restauração da nacionalidade ao povo, a comunidade: quaisquer que sejam os títulos utilizados ou as novas fórmulas introduzidas, a descolonização é sempre um fenômeno violento”.
A luta pela independência da Argélia contra os colonialistas franceses foi uma das revoluções anti-imperialistas mais inspiradoras do século XX. Parte da onda de descolonização que começou após a Segunda Guerra Mundial (na Índia, China, Cuba, Vietnã e muitos países africanos), a Conferência de Bandung declarou estes movimentos como parte do “despertar do Sul” – um Sul que tem sido sujeito durante décadas (em alguns casos mais de um século) à dominação imperialista.
Após a declaração de guerra na Argélia, em 1º de novembro de 1954, foram cometidas atrocidades impiedosas por ambos os lados (1,5 milhão de mortes, com mais milhões de desalojados no lado argelino e dezenas de milhares de mortos no lado francês). A liderança da Frente de Libertação Nacional (FLN) fez uma avaliação realista do equilíbrio de poder militar, que pendia fortemente a favor da França, que tinha então o quarto maior exército do mundo. A estratégia da FLN foi inspirada na máxima do líder nacionalista vietnamita Ho Chi Minh: “Para cada nove de nós mortos, mataremos um – no final, vocês partirão”. A FLN queria criar um clima de violência e insegurança que acabaria por se revelar intolerável para os franceses, internacionalizar o conflito e trazer a luta da Argélia para a atenção do mundo.
Seguindo esta lógica, Abane Ramdane e Larbi Ben M’hidi decidiram levar a guerrilha às áreas urbanas e lançar a Batalha de Argel em setembro de 1956. Talvez não haja melhor maneira de apreciar este momento chave e dramático de sacrifício do que o clássico filme realista de Gillo Pontecorvo, de 1966: A Batalha de Argel. No filme, há um momento dramático em que o Coronel Mathieu, um disfarce fino para o General Massu da vida real, conduz o líder capturado da FLN, Larbi Ben M’Hidi, para uma conferência de imprensa na qual um jornalista questiona a moralidade de esconder bombas nas cestas de compras das mulheres. “Você não acha um pouco covarde usar cestos e bolsas femininas para carregar artefatos explosivos que matam tantas pessoas?” O repórter pergunta. Ben M’Hidi responde: “E não lhe parece ainda mais covarde lançar bombas de napalm sobre aldeias indefesas, para que haja mil vezes mais vítimas inocentes? Dê-nos seus bombardeiros e você poderá ficar com nossas cestas”.
Através da ampla cobertura favorável da revolução argelina na imprensa afro-americana (com muitas exibições locais de A Batalha de Argel) e também dos escritos de Fanon, a Argélia passou a ocupar um lugar seminal na iconografia, retórica e ideologia de tendências centrais do movimento afro-americano pelos direitos civis, que passou a ver a sua luta como ligada às lutas das nações africanas pela independência.
Depois de visitar a Argélia em 1964 e a Casbah, local da Batalha de Argel contra os franceses em 1956-1957, Malcom X declarou:
As mesmas condições que prevaleceram na Argélia que forçaram o povo, o nobre povo da Argélia, a recorrer eventualmente às táticas de tipo terrorista, que eram necessárias para tirar o macaco das suas costas, essas mesmas condições prevalecem hoje nos Estados Unidos em todas as comunidades negras.
Alguns meses depois, em 1965, ele prosseguiu:
Eu não sou a favor da violência. Se pudéssemos promover o reconhecimento e o respeito do nosso povo por meios pacíficos, muito bem. Todos gostariam de atingir os seus objetivos de forma pacífica. Mas também sou realista. As únicas pessoas neste país que são solicitadas a não serem violentas são os negros.
E ao ouvir sobre o assassinato de Martin Luther King Jr. em 1968, o líder do Partido dos Panteras Negras, Eldridge Cleaver, proclamou:
A guerra começou. A fase violenta da luta de libertação negra chegou e irá espalhar-se. Daquele tiro, daquele sangue. A América será pintada de vermelho. Cadáveres irão se espalhar pelas ruas e as cenas serão uma reminiscência das notícias repugnantes, aterrorizantes e de pesadelo provenientes da Argélia durante o auge da violência geral, mesmo antes do colapso final do regime colonial francês.
Nós também devemos desafiar a narrativa de culpabilização das vítimas que fixa os palestinianos como vítimas imperfeitas, que, nas palavras da estudiosa americano-palestina Noura Erakat, equivale a uma “absolvição e cumplicidade com a dominação colonial de Israel”. Ao escolher destacar a violência palestina, a nossa mensagem para eles “não é que devem resistir de forma mais pacífica, mas que não podem resistir de forma alguma à ocupação e agressão israelense”.
Denunciar e apontar a violência dos oprimidos e colonizados não é apenas imoral, mas também racista. As pessoas colonizadas têm o direito de resistir com todos os meios necessários, especialmente quando todas as vias políticas e pacíficas estiverem bloqueadas ou obstruídas. Ao longo dos últimos 75 anos, todas as tentativas palestinas de negociar um acordo de paz foram rejeitadas e minadas. Todos os meios não violentos foram bloqueados, incluindo a “Marcha do Retorno” endossada pelo Hamas em 2018 (selvagemente reprimida, com mais de 200 pessoas mortas e dezenas de milhares de feridos e mutilados), bem como a campanha internacional de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS), que se tornou ilegal em vários países ocidentais sob pressão do lobby sionista.
Em meio a uma ocupação colonial bárbara e em condições de Apartheid, o apropriado seria que qualquer conversa sobre justiça e responsabilização pela violência contra civis começasse acusando o opressor. Como define a racionalidade da revolta e da rebelião de Fanon, os oprimidos revoltam-se porque simplesmente não conseguem respirar.
Optar por se concentrar na denúncia da violência palestina é o mesmo que pedir-lhes que aceitem passivamente o seu destino – morrer em silêncio e não resistir. Em vez disso, concentremo-nos em um cessar-fogo imediato, travando a segunda Nakba, e em pôr fim ao cerco e à ocupação. Ao mesmo tempo que mostramos a nossa solidariedade para com os palestinos na sua luta pela liberdade, justiça e autodeterminação.
As vidas palestinas importam!





 373
373