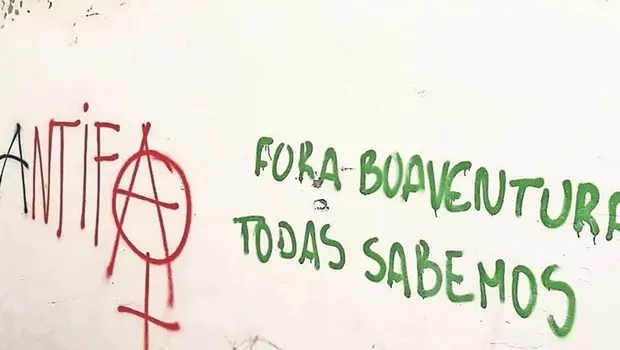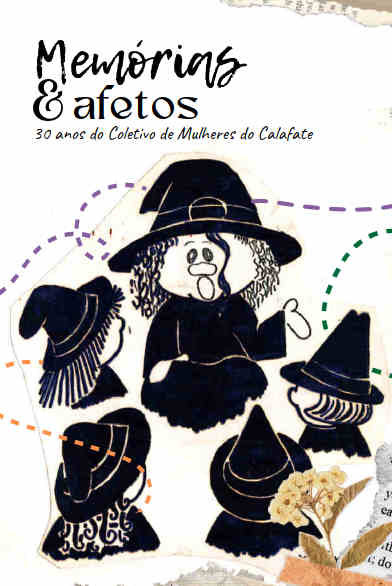Há muito o que dizer sobre igualdade salarial entre homens e mulheres, se uma mulher negra segue recebendo pouco mais de um quarto do quanto ganha um homem branco para a mesma função, porque isso revela que as legislações já existentes não conseguiram furar o real das opressões nas relações de trabalho.


Por que há tanta diferença de salário entre homens e mulheres, brancas e pretas?
Convidada a falar sobre a igualdade salarial prevista pela Lei 16.411/2023, fiquei um pouco incomodada. Há tanto sobre o que discutir, tal como a urgente necessidade de revogar a contrarreforma trabalhista ou de discutir o ataque que o STF (e, ao que parece também o governo) fazem atualmente ao vínculo de emprego. Ou tratar das metas que, ao lado do sucateamento das condições de trabalho, vêm adoecendo juízas/es e servidoras/es. Em vez disso, a proposta era discutir uma lei que parece ser “sempre mais do mesmo”.
O que dizer sobre uma lei que determina o que a CLT já prevê? Algo que está inscrito como direito fundamental na Constituição de 1988, repetido na lei 9.029 de 1995?
A notícia de hoje porém, atesta a importância do tema.
Há muito o que dizer sobre igualdade salarial entre homens e mulheres, se uma mulher negra segue recebendo pouco mais de um quarto do quanto ganha um homem branco para a mesma função, porque isso revela que as legislações já existentes não conseguiram furar o real das opressões nas relações de trabalho. E se ainda assim, confederações como a CNI e a CNC se incomodam a ponto de propor ação de inconstitucionalidade de partes do texto legal.
Por um lado, é importante lidar com a lógica do eterno retorno à resposta legislativa, mesmo quando ela já se revelou inefetiva. Se insistimos em criar e comemorar leis, feitas supostamente para corrigir distorções sociais que seguem persistindo, é porque há algo ausente nesse debate. Então, pensei em tratar do tema a partir de algo que me veio à mente, em razão de estudos outros, nos quais ando me aventurando.
Essa lei da igualdade salarial é sintoma.
Como talvez venha a ser, também, a lei que dirá sobre a relação de trabalho entre motoristas e empresas que operam através de plataformas digitais, a partir da triste proposta encaminhada pelo governo federal, sobre a qual já escrevi, aqui e aqui.
Sintoma da insistência em apostar na norma escrita, ou seja, na linguagem do Estado, para resolver questões sociais que transbordam os limites e possibilidades desse discurso. Sintoma, também, da crise pela qual passa nosso modelo de organização social, fundado na falsa noção de que a lei possui a capacidade de alterar a realidade.
E esse é o ponto, por onde quero começar a tecer o fio das reflexões que pretendo propor aqui.
Tratar de igualdade é tratar de um dos pilares da modernidade.
O lema da revolução francesa cristaliza, em uma frase, os pressupostos de um processo histórico fundado na acumulação primitiva que ocorreu, na Europa, através do desapossamento das terras e da imposição da condição de trabalhador assalariado. É interessante a tese de Silvia Federici, apoiada em Marx, no sentido de que o capitalismo se consolidou a partir de um processo de contrarrevolução conservadora, mobilizada através do discurso religioso da Santa Inquisição, pela perseguição dos corpos femininos (bruxas) e insurgentes (hereges).
A igualdade de que trata o Estado em suas leis é essa: a de um sujeito universal, supostamente sem cor, classe, sexualidade ou raça. Ou, melhor dizendo, um sujeito ideal que, quando tentamos materializar, aparece como um homem branco, heterossexual, capaz e proprietário. Para quem duvida dessa afirmação, basta lembrar que na França revolucionária mulheres e pessoas pretas não tinham direito a voto, acesso à educação ou a cargos públicos. A França tinha colônias, com pessoas escravizadas, mas o lema era igualdade, liberdade e fraternidade.
Estamos tratando, portanto, de um discurso de igualdade, que permite a autores como Montesquieu sustentar, no mesmo texto, O Espírito das Leis, a indignidade da escravização por contrária à civilidade e a naturalidade da escravização dos corpos indígenas e negros na América, como decorrência inarredável do processo “civilizador”. Em nosso caso, o discurso da igualdade conviveu tranquilamente com quase quatrocentos anos de uma economia fundada na espoliação e no assassinato disciplinados pelo Estado. Aliás, convive até hoje com a escravização de pessoas, sem conseguir sequer dar, às situações que vêm ao conhecimento público, a resposta já prevista nos textos legislativos como o do artigo 243 da Constituição.
Um discurso de igualdade que até hoje convive bem com as diferenças de proteção jurídica entre quem realiza limpeza em âmbito doméstico (em sua maioria mulheres pretas) ou em escritórios; entre terceirizados e contratados diretamente. Tão vinculado à opressão sexista e racista que não há escândalo com a notícia de que apenas agora houve decisão do STF sobre a impossibilidade de uso da legítima defesa da honra como argumento de exclusão da ilicitude em caso de feminicídio. Veja, que esse assunto ainda esteja em pauta é o que revela a distância que temos entre o discurso da igualdade e a realidade das relações de raça, gênero, classe, etc.
E quem ainda está lendo este texto, talvez pense que se trata de uma abordagem anacrônica, afinal já superamos a noção de igualdade formal. Construímos a ideia de igualdade substancial. Temos o Direito do Trabalho, fundado que é no reconhecimento de uma desigualdade objetiva e insuperável, entre quem toma trabalho e quem depende da venda do trabalho para sobreviver. Temos a lei de cotas; a lei Maria da Penha. E temos agora mais uma lei exigindo paridade salarial, com transparência de dados e fiscalização de sua aplicação.
Por que, então, os marcadores seguem indicando alto índices de violência de gênero, ou por que não existe a mesma quantidade de pessoas pretas e de mulheres em altos cargos, seja no poder público ou no âmbito privado?
Ora, se a realidade insiste em se revelar como produtora de desigualdades profundas e injustificáveis, é preciso dar um passo atrás. E, para além de reconhecer que ainda lidamos com um conceito de igualdade que está inscrito em um certo modo de organização social, problematizar o próprio conceito. Afinal, o capitalismo funda-se na violência do trabalho obrigatório, que nos reduz à condição de seres portadores da mercadoria força de trabalho, de cuja venda depende nossa existência. Funda-se em uma noção de família, que regula o trânsito da propriedade privada através do controle violento da sexualidade feminina. Funda-se na noção de indivíduo, que se contrapõe à sociedade e aos demais seres, e que é ensinado, desde muito cedo, a compreender seus pares como inimigos e concorrentes. Até as mais bem intencionadas doutrinas de reconhecimento e busca da autonomia, com a convocação para que sejamos “a melhor versão de nós mesmas”, pressupõem esse indivíduo que compete por um lugar, que não existe para todas as pessoas. Essa lógica do inimigo está inscrita na doutrina de Hobbes, segundo o qual sua mãe pariu gêmeos, ele e o medo, como sempre lembra Daniel Omar Perez.
Diante dessa estrutura mítica do que nos faz civilizadas, o Estado apresenta-se como um terceiro neutro, com autoridade para ditar as regras do jogo através do Direito. E o faz, ora reforçando as desigualdades, ora buscando amenizar seus efeitos, sem jamais combatê-los a ponto de comprometer o sistema. Um sistema em que todas as formas de convivência social, desde a familiar, nos convencem de que o cuidado é atributo feminino, a liderança é masculina e a servidão é preta. Desde os brinquedos infantis, passando pelos livros escolares, novelas, livros, tudo atua para naturalizar desigualdades.
Voltando ao tema desse artigo, as diferenças salariais são acompanhadas pelas diferenças de acesso, de tempo, de possibilidade de “investir na carreira”, terrível e tão simbólica expressão contemporânea para reforçar a falsa ideia de que sucesso e fracasso são consequências de atitudes individuais. E por uma cultura que não apenas naturaliza essas diferenças, mas as utiliza também como fator de concorrência e de manutenção da lógica de exploração dos corpos femininos.
É que, se a venda da força de trabalho é condição para a sobrevivência física, em uma realidade na qual não há espaço para todas as pessoas, a capacidade, a idade, a sexualidade, o gênero, a cor da pele certamente serão utilizados como vantagens na luta pela sobrevivência.
Percebem por que a lei 16.411/2023 revela-se como sintoma?
Não há igualdade possível em um tal modelo de sociedade. Ela é invocada no discurso do Estado para nos apaziguar com sua ausência.
E, ainda assim, confirmando o caráter misógino e patriarcal das relações de trabalho, consegue despertar a inconformidade de confederações como a CNI e a CNC, as quais, de acordo com a notícia antes mencionada, entendem que existem diferenças “lícitas e razoáveis”, fundadas em critérios “objetivos”.
Bem, talvez a igualdade nem seja mesmo o valor a ser perseguido, a menos que estejamos dispostas a romper definitivamente com o atual estado de coisas. A menos que tenhamos condição de realizar os pressupostos de um convívio radicalmente comunitário. Mas aí já não será mais necessário falar de igualdade salarial e sim de convívio solidário e amoroso com a singularidade.
Minha hipótese aqui é de que a igualdade, junto com o conceito de liberdade, do qual não se separa (basta ler Hegel), é um mito que precisamos ter a coragem de reconhecer e enfrentar, sob pena de seguirmos editando leis sem aderência na realidade. Leis que ajam apenas como sintoma, conformando-nos com a realidade do problema, para permitir que sigamos convivendo com as opressões que recaem sempre sobre os mesmos corpos.
Leis que permitem discussões como essas propostas agora em uma ação de inconstitucionalidade, na qual representantes do capital se mostram “preocupadas com o reconhecimento de uma eventual discriminação”, que deveria ser limitada “aos casos de discriminação comprovada e dolosa” e, claro, com a exigência de relatórios de transparência salarial, talvez a única efetiva inovação da Lei 14.611. As confederações estão também preocupadas, segundo a mesma notícia, com a garantia de ampla defesa e contraditório às empregadoras. O mesmo direito fundamental cotidianamente negado a trabalhadoras e trabalhadores acusados e despedidos sob alegação de justa causa.
Todas essas preocupações nos levam a mais uma reflexão.
Há função para o sintoma. E, nesse sentido, não desprezo a importância do movimento político que resulta na Lei 16.411. Basta lembrar das mudanças, inclusive culturais, que leis como a de cotas ou a lei Maria da Penha promoveram ao longo dos últimos anos. A outra função de um sintoma é impulsionar ao enfrentamento do problema. E, mesmo que não seja possível superar completamente as condições que o geraram, ele pode ser reconhecido. Reconhecer o problema é passo fundamental para enfrenta-lo. O que essa legislação está propondo é o olhar para distorções históricas, cuja reparação faz parte do processo que pode efetivamente conduzir a mudanças sociais mais profundas.
A pergunta que essa legislação desafia é por que há tanta diferença de salário entre homens e mulheres, brancas e pretas? E a resposta não é a falta de lei, disso sabemos. Mas a lei pode enunciar a verdadeira falta: da reelaboração dos afetos, da coletivização do cuidado, da reestruturação da família, da redistribuição do tempo e da riqueza que coletivamente produzimos.
É a oportunidade de reconhecer que isso que chamamos de desigualdade salarial tem a ver com a forma como criamos nossas crianças, impondo comportamento e distribuindo brinquedos que condicionam as posições de gênero. Tem a ver com o padrão branco e masculino de eficiência, que só se alterará quando outros corpos estiverem em espaços de poder; com a privatização do cuidado e sua arbitrária atribuição às mulheres. Tem a ver com a racionalidade escravista que reforça e atualiza constantemente práticas discriminatórias.
Comemoro, portanto, a publicação dessa lei; oxalá sirva como ponto de partida para mudanças que possam ir além do direito, mas que também passam por alterações de entendimento, de pretensões processuais, de teses, nos processos com os quais lidamos diariamente.
Como nos ensina a psicanálise, reconhecer o sintoma é o primeiro passo para a mudança. E essa mudança é urgente, afinal a forma como estamos vivendo vem gerando bem mais sofrimento e dor, do que alegrias. Se somos realmente seres racionais, já passou da hora de usarmos essa racionalidade em favor de práticas, inclusive jurídicas, que tornem a vida menos sofrida, violenta e exigente, sobretudo para as mulheres.
Edição: Marcelo Ferreira
fonte: https://www.brasildefators.com.br/2024/03/14/quem-tem-medo-de-igualdade-salarial-para-as-mulheres



 534
534