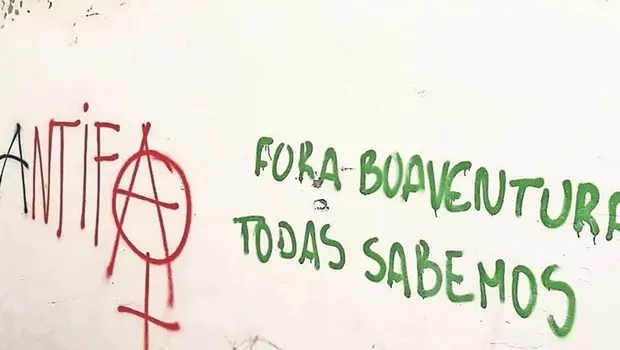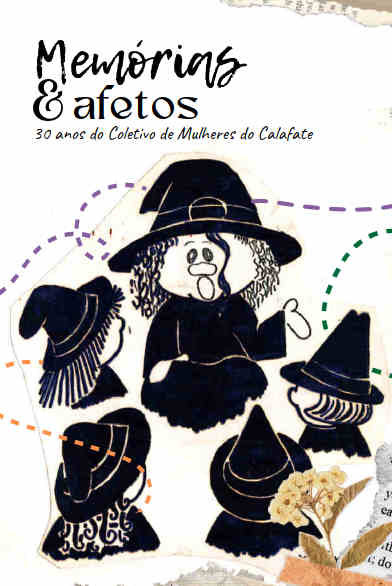“No cotidiano da segurança pública há uma espécie de restauração de poder da ordem mediante o uso da violência, ameaçado pela democratização, enquanto projeto em desenvolvimento”, afirma a socióloga
Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil
 “As relações de violação dos direitos humanos no Brasil foram e são engrenagem da nacionalidade brasileira e refletem, não a existência de um outro ameaçador, mas imagens de nós mesmos”, diz Laura Gonçalves de Lima na videoconferência intitulada “Violência, segurança e cidadania no Brasil. Uma leitura a partir de Os Sertões de Euclides da Cunha”, ministrada no Instituto Humanitas Unisinos – IHU. Segundo ela, em uma sociedade que cotidianamente é palco de violações, é um erro tratar a violência apenas como um objeto de conhecimento. “Como atestam a reprodução de inúmeras pesquisas estatísticas e demográficas sobre a desigualdade racial em termos de corpos e territórios violados, conhecer não é suficiente. Apesar de fundamentais, diagnósticos reiterados talvez nos digam mais acerca da naturalização da violência branca do que nos auxiliem a enfrentá-la”, adverte.
“As relações de violação dos direitos humanos no Brasil foram e são engrenagem da nacionalidade brasileira e refletem, não a existência de um outro ameaçador, mas imagens de nós mesmos”, diz Laura Gonçalves de Lima na videoconferência intitulada “Violência, segurança e cidadania no Brasil. Uma leitura a partir de Os Sertões de Euclides da Cunha”, ministrada no Instituto Humanitas Unisinos – IHU. Segundo ela, em uma sociedade que cotidianamente é palco de violações, é um erro tratar a violência apenas como um objeto de conhecimento. “Como atestam a reprodução de inúmeras pesquisas estatísticas e demográficas sobre a desigualdade racial em termos de corpos e territórios violados, conhecer não é suficiente. Apesar de fundamentais, diagnósticos reiterados talvez nos digam mais acerca da naturalização da violência branca do que nos auxiliem a enfrentá-la”, adverte.
Na conferência virtual, Laura expôs o tema de sua tese doutoral, que busca compreender a repetição sistemática das violações realizadas em nome da sociedade brasileira, a partir de Os Sertões, de Euclides da Cunha, e da atuação da Comissão Parlamentar de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Para ela, “o Brasil foi e continua sendo território de Quilombos e Comunidades Indígenas, estruturas sociais que antagonizam o modelo colonial-escravocrata ao produzirem outras formas de compreensão acerca do pertencimento, da liberdade e da autoridade, que podem ser chave para que possamos romper as fronteiras que limitam nossa imaginação política à monumentalização de nossa própria violação”.
A seguir, publicamos a videoconferência no formato de entrevista.
Laura Gonçalves de Lima é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestra em Ciências Sociais pelo Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas, da Universidade de Brasília – UnB, e doutora em Sociologia pelo Departamento de Sociologia da UnB. É pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança – NEVIS, da UnB, e pesquisadora associada do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos – INCT-INEAC, da Universidade Federal Fluminense – UFF.
Confira a entrevista.
IHU – Como acontece a repetição sistemática da violência no Brasil, segundo tem evidenciado nas suas pesquisas?
Laura Gonçalves de Lima – O objetivo da minha pesquisa é compreender a repetição sistemática de violações realizada em nome da sociedade brasileira, em nome do cidadão de bem, e como convivemos com essas violações em um regime sistemático.
Em 2014, estudei os crimes de maio, quando grupos de extermínio de policiais e agentes de segurança pública mataram mais de 500 pessoas, em oito dias, em maio de 2006, depois dos ataques do Primeiro Comando da Capital – PCC. Tentei entender os crimes de maio através dos testemunhos das mães e familiares das vítimas do Estado brasileiro em uma audiência pública que havia sido realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para debater nove anos de impunidade dos crimes de maio. A degravação dos depoimentos dessas mulheres sobre o pior dia da vida delas me atravessou muito.
Em 2017, quando ingressei no doutorado em Sociologia, eu tinha o objetivo de entender como os agentes de segurança pública estavam produzindo sentido para essas relações sistemáticas. A pesquisa tinha como foco entender como a Comissão Parlamentar de Segurança Pública da Câmara dos Deputados estava produzindo sentido para a violência e para as violações de direitos no Brasil. Nesse entretempo, ocorreu a crise econômica e política, e desembocamos nas eleições de 2018, que acabaram por produzir uma espécie de legislação popular de produção de respostas, que são criadas no cotidiano da segurança pública para as crises nacionais política e econômica. Isso está muito bem representado na eleição de Bolsonaro, mas também na eleição das personagens que encontrei na Comissão, isto é, deputados cuja origem política está nas instituições de segurança pública.
Agentes de segurança pública na política
De certa forma, esse movimento parecia mostrar uma espécie de positivação da violência como um instrumento de produção de segurança. Esse caminho está bem-marcado quando olhamos para o número de profissionais de segurança pública e militares eleitos. Em 2010, foram quatro candidaturas eleitas; em 2014, 19; em 2018, 42. A comissão que estudei, cujas reuniões frequentei, era majoritariamente composta por policiais políticos. Eram 75 membros e, desses, 24 eram oriundos das forças de segurança pública ou militares. Acompanhei reuniões ordinárias e audiências públicas, majoritariamente no segundo semestre de 2019, e foi aí que entendi que a pesquisa seria muito desafiadora porque a comissão era um lugar muito insalubre. Era uma experiência bem diferente da pesquisa anterior porque, com o depoimento das mães, somos atravessados por uma espécie de sofrimento bastante difícil de nomear. Ao mesmo tempo, essas mulheres têm um plano, um projeto de país que consiste em que nenhuma outra mulher sofra o que elas estão sofrendo; nem a mãe do policial. Elas têm uma necessidade e um protagonismo de construção de luta no luto que vivem. A pesquisa de mestrado me inspirou muito porque existia, entre estas mulheres, um espaço de esperança, de admiração, mas, na Comissão Parlamentar de Segurança Pública, esse espaço não existia.
IHU – Como era a comissão?
Laura Gonçalves de Lima – Em 2019, ela era um palco da violência como instrumento e identidade dos policiais políticos. Em 2020, com a pandemia, vimos os boicotes no Ministério da Saúde, a crise em Manaus, a nomeação de um general como ministro da Saúde. Todos os temas que me ocupavam no campo da segurança pública, como medo, insegurança, violência, foram protagonistas neste outro espetáculo da saúde. Comecei a reparar que havia características compartilhadas por esses dois contextos. Um era o caráter extremo das violações, outro, o papel das narrativas e a capacidade e a incapacidade dessas narrativas restaurar sentidos compartilhados durante e após as experiências traumáticas, a aposta na militarização de espaços ocupados por civis como resposta para as crises nacionais, e a incidência desproporcional das violências em corpos e territórios negros.
Lendo Os Sertões, observei vários paralelos na forma de justificar a violência, mas também entre personagens e práticas. O policial político assume a forma como Euclides da Cunha estava justificando a violência para falar coisas muito parecidas. Lendo o livro, a primeira imagem que me veio foi a de um canhão, que pesa toneladas e arrastaram por quilômetros sertão adentro, sem a mínima necessidade, só para demonstrar o poder bélico, e o “caveirão”, que é usado como espetáculo bélico. Havia uma transferência de sentidos interessantes entre os protagonistas destes dois mundos dos quais eu estava buscando material empírico. Em Os sertões, na Guerra de Canudos, estamos falando de soldados republicanos. Euclides da Cunha também era do exército; era republicano. Na Comissão Parlamentar de Segurança Pública havia os policiais e os políticos. Ou seja, trata-se de uma espécie de política das armas na construção de um projeto de Brasil.
O livro tinha imagens de grande eficácia simbólica, então passei a tentar entender quais eram essas imagens e por que essas duas sendas compartilhavam tantas coisas. Me distanciei da Comissão Parlamentar de Segurança Pública e tomei o livro como uma espécie de simbólica, como se fosse um arquivo de imagens e narrativas do pensamento social brasileiro que ilustram como a violência era retratada na virada do século XIX para o século XX.
IHU – Pode explicar como a violência era retratada naquele período?
Laura Gonçalves de Lima – A Guerra de Canudos acontece no entremeio, onde a escravidão deixa de ter uma previsão legal e é instaurada a República. Na realidade, a necessidade de exterminar Canudos é o estabelecimento do poder republicano no Brasil. Afirma-se o poder republicano no país com o extermínio completo da segunda maior cidade da Bahia à época, que, estima-se, tinha 20 mil habitantes e mais cinco mil soldados republicanos.
O que eu estava buscando em Os Sertões eram as estruturas simbólicas que produzem sentidos compartilhados sobre violência. Eu estava buscando ideologias que sustentaram o modelo civilizacional que se desenvolveu com a colonização e a escravização, que institucionalizou o poder bélico na sociedade, e construí uma analogia com o pensamento mítico. As narrativas que se encaixam nas estruturas simbólicas têm uma capacidade peculiar de, mediante a repetição, agregarem e integrarem contingências, que são desagregadoras, e experiências com a violência, que são desagregadoras e difíceis de simbolizar. As narrativas conseguem integrar essas experiências e contingências desagregadoras, que são um sistema de ideias que vão restaurar a ordem – no caso, uma ordem racial que estava ameaçada pela modernização, colocando cada personagem em seu lugar. Cada vez que se conta essa história, aquilo que era complexo se torna um enredo do bem contra o mal, e cada personagem vai estar em um lugar específico.
A partir disso, dividi a tese da mesma forma que Os Sertões, em três partes: a terra, o homem e a luta, que são elementos imaginados como fundacionais do Estado-nação, território, população e soberania.
IHU – Em que consiste cada um desses elementos e como eles se relacionam com a questão da reprodução da violência?
Laura Gonçalves de Lima – Na seção sobre a terra, sistematizei o retrato da guerra feito por Euclides da Cunha, buscando identificar as imagens que ele utilizou para descrever a terra, o homem e a luta, bem como as estratégias narrativas e os impactos simbólicos da obra.
Na seção sobre o homem, trabalhei o material que coletei a partir das reuniões da Comissão Parlamentar de Segurança Pública. A primeira parte dessa seção, dediquei a apresentar a pesquisa sobre a produção da política nacional de segurança pública, composta por uma série de coisas: a revisão paradigmática da segurança pública no Brasil, como o direito à segurança pública está representado na Constituição de 1988; a revisão dos planos nacionais de segurança pública; a revisão das mudanças legislativas que impactaram a segurança pública; o estatuto do desarmamento; a lei Maria da Penha; a lei de drogas; a lei de medidas cautelares; e uma breve apresentação de crises políticas que desembocaram nas eleições de 2018.
A segunda parte dessa seção foi uma apresentação do histórico da Comissão Parlamentar de Segurança Pública. Ela foi criada em 2002 e produz relatórios anuais. Nas apresentações desses documentos, busquei identificar como cada uma das gestões da comissão representava a violência e o papel dela perante a sociedade brasileira, para tentar identificar se algo havia mudado naquela legislatura específica, de 2019, que estava dominada por policiais e políticos. A última parte dessa seção contém a apresentação das imagens que coletei na comissão e relatos etnográficos.
Na seção sobre a luta, busquei, nos debates de sociologia da violência, relações raciais, racismo, conceitos que me ajudassem a pensar a violência e o papel da violência na nacionalidade brasileira. Como ocorreram quatro grandes investidas contra Canudos, fiz quatro grandes investidas contra a violência e construí um espaço para entender a violência como mediadora da organização territorial brasileira, como instrumento de manutenção da hierarquia racial, como linguagem, como mercadoria.
A violência está relacionada a um instrumento de restauração do poder branco, escravocrata, frente às ameaças enunciadas por movimentos modernizantes. Em Canudos, esses movimentos eram o fim da escravatura, a instauração da República, a questão de como manter a hierarquia racial e a ordem escravocrata, ainda que isso não estivesse legalmente previsto. Na Comissão Parlamentar, isso diz respeito ao próprio desenvolvimento da democratização do Brasil, à expansão e garantia de direitos desde 1988.
Retroalimentação da segurança pública
A tese é que, ao reificar corpos e territórios negros como representação da ameaça, o campo de segurança pública é apreendido em uma dinâmica de retroalimentação com o imaginário simbólico racista e o regime de hierarquia racial, que fundaram a sociedade brasileira. O que, por sua vez, impõe limites raciais aos processos de democratização, de efetivação e de garantia de direitos na sociedade brasileira.
A terra
A primeira parte da pesquisa, sobre a terra, é dedicada a Os Sertões. Euclides da Cunha, segundo Silvio Romero, dorme desconhecido e acorda célebre. Com a publicação da obra, ele consegue, ao mesmo tempo, ingresso na Academia Brasileira de Letras e no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Este é um livro que transita entre ciência e literatura, entre relato e ficção. Duas ideias são chaves para entender sua narrativa.
A primeira é a centralidade da ideia do que é o sertão. O sertão, para nós, está muito vinculado ao imaginário do semiárido nordestino, da cultura popular, mas, na virada do século XIX para o século XX, não era isso. O sertão, naquele momento, era entendido quase como um território mítico; era uma contraparte da ideia de território colonial, de modernidade. A costa brasileira estava integrada ao mundo e voltada à imitação da cultura europeia, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, e o restante do Brasil, o Brasil profundo, um era um grande território a ser descoberto. Um grande território em que não havia o monopólio legítimo da violência e da retórica de conquista territorial. O sertão é um território símbolo de mistérios a serem desbravados e conquistados.
A segunda ideia diz respeito à grande vertente da lógica de Euclides da Cunha, que é a Revolução Francesa. Sendo parte do exército brasileiro, ele aprendia, na escola militar, que era portador da Revolução Francesa, mas, quando chega para entender a realidade brasileira, percebe que o exército, ao invés de estar representando, está exterminando os brasileiros. Essa descoberta atravessa a obra e reorganiza completamente a narrativa de Euclides da Cunha. Ele vai de uma obra que deveria ser uma epopeia da República brasileira, para uma obra que é uma tragédia da nacionalidade brasileira. O tempo todo, ele tenta sistematizar os conhecimentos oriundos de diversos campos do conhecimento, os quais estão abalizados por uma relação de determinismo. Primeiro do determinismo da terra sobre o homem, do território sobre a raça, e depois da raça sobre as relações sociais, da raça sobre a luta. Temos como resultado uma obra que assume território e raça, terra e homem, como fatos coercitivos que impunham não apenas a tragédia republicana sobre Canudos, mas a tragédia da nacionalidade brasileira, que para ele estava condenada à autodestruição.
O sertão pensado pela intelectualidade
O sertão é a contraparte da modernidade, pensado pela intelectualidade brasileira da virada do século XIX para o século XX a partir da articulação de dois binômios: uma relação entre civilização e selvageria – o sertão é um lugar selvagem –, e entre imitação e autenticidade – o sertão era um lugar autêntico. As cidades do litoral eram civilizadas, mas estavam completamente voltadas à imitação da cultura e da civilização europeia. Seria nesse lugar isolado e selvagem que nasceria uma cultura autêntica e genuinamente brasileira. O sertão também era aquele lugar onde não existe o controle social da violência, um lugar ambíguo. Igualmente é um lugar de messianismos, promessas, muito parecido com o deserto bíblico. O sertão aparece na literatura brasileira com sentidos bíblicos. Euclides trata da descida ao inferno. Guimarães Rosa fala do limbo, do espaço de penitência. Mas Euclides da Cunha chama o sertão de um quase deserto porque ele é ambíguo, passa por ciclos de chuva e seca que modificam a natureza e as condições de vida dessa natureza. É a partir dessa característica e dessa ambiguidade do sertão que ele constrói uma representação sobre quem é o sertanejo, que seria a rocha viva da nacionalidade brasileira. O sertanejo era ambíguo e mestiço. Aqui precisamos diferenciar entre miscigenação e mestiçagem. Miscigenação é o que acontece desde que o mundo é mundo: duas pessoas étnico-raciais distintas reproduzem. A mestiçagem é o que acontece quando o indivíduo miscigenado não é integrado a nenhum dos dois polos originais e começa a se construir uma estratificação social.
O sertanejo, segundo Euclides da Cunha
O sertanejo de Euclides da Cunha é um mestiço, mas não qualquer mestiço. Ele é um mestiço protegido, pelo sertão, da influência da cultura europeia. É antes de tudo um bandeirante; a origem étnica dele são os bandeirantes. Dentro da ideia das três raças, ele exclui completamente o preto da equação. O mestiço do branco com preto, que está no litoral, não serve para nada, para Euclides da Cunha, e precisa ser superado. Ele não fala, em momento algum, do mestiço do indígena misturado com preto, e positiva o mestiço, chamando-o de rocha viva da nossa nacionalidade, o que poderia surgir de autêntico e selvagem. Essa é uma forma de legitimar a posse do território pelo branco, que, ao fim e ao cabo, é um branco mestiçado. Euclides mesmo se entendia nessa categoria. Ele dizia que era 1/3 grego, 1/3 celta e 1/3 tapuia.
Condenação da miscigenação e da mestiçagem
Durante muito tempo, a miscigenação e a mestiçagem eram condenadas pelo discurso científico porque nada daria certo com a miscigenação. A virada compreensiva acerca da miscigenação ocorreu em 1930, com Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, em que o mestiço brasileiro é apresentado como a prova de que somos uma sociedade tolerante, de que não somos uma sociedade violenta. Diferentemente dos EUA e da África do Sul, aqui há uma democracia racial. Esse discurso começa a ser montado em 1930. Décadas antes, entre 1890 e 1930, havia ocorrido o movimento de embranquecimento da população para modernizar o país e, com isso, iniciou-se a imigração da ralé europeia, basicamente para embranquecer a população brasileira. Só a partir de 1930 a mestiçagem começa a ser pensada como uma coisa positiva, como valor nacional. Euclides, como escreveu em 1902, está neste entremeio. O que ele está dizendo é o seguinte: a mestiçagem com o sangue africano não dá. A mestiçagem do branco com o indígena é o que o Brasil vai produzir de autêntico e é o que precisa ser positivado. Mais curioso do que isso é o fato de ele esquecer, na narrativa, que se os bandeirantes são a origem étnica do sertanejo, eles foram para o sertão justamente porque existiram os quilombos e indígenas. O mais simbólico disso é que, quando se chega na seção da luta, cai por terra toda a teoria dele, porque as duas personagens mais perigosas da batalha são a preta e a mestiça do preto com indígena. João Grande e Pajeú são os comandantes mais ferozes e mais perigosos de Canudos. Então, há uma tentativa de positivação do mestiço, o branco e o indígena, ao mesmo tempo que há uma representação do preto como obstáculo a ser superado pela civilização. Ele utiliza imagens racistas que produz sobre o sertão e o sertanejo para explicar o fenômeno – que para a sociedade inteira era completamente surreal – de como os sertanejos miseráveis iriam conseguir vencer as forças republicanas.
Violência, segurança e cidadania no Brasil. Uma leitura a partir de Os Sertões de Euclides da Cunha:
O homem
A segunda parte da pesquisa é sobre a Comissão Parlamentar de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Toda vez que se faz política pública de segurança, há uma obsessão de profetizar um novo paradigma de segurança pública e com os policiais e políticos isso não é diferente. Mas o novo paradigma de segurança pública, para eles, significava dar condições plenas de trabalho para os agentes de segurança pública. De alguma forma, na comissão, eles estavam tentando inverter a previsão constitucional segundo a qual a polícia é um instrumento da política. Na Comissão Parlamentar de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, a política era um instrumento da polícia. A política estava sendo usada para aumentar o poder de polícia.
Outra coisa notável na Comissão Parlamentar de Segurança Pública da Câmara dos Deputados era a autonomia das forças de segurança pública e uma espécie de caráter pré-moderno dessas forças, como se elas fossem uma grande casta avessa aos mecanismos modernos de racionalização e gestão pública. Havia a tentativa de preservar a atuação policial enquanto um campo de mistério, do imprevisível, do improviso. Os policiais da Comissão Parlamentar de Segurança Pública não representam o policiamento com a promessa moderna de mediação de conflitos, mas enquanto uma atividade-sacerdócio, ou de um heroísmo messiânico, produtora de agentes vocacionados de restauração de um passado imaginário, em que a autoridade se afirma mediante a repressão dos conflitos sociais.
Por fim, a tese trabalha com a ideia de fetiche branco. Fetiche é uma palavra que vem de “feitiço”, amuletos de proteção que os portugueses carregavam nas aventuras escravocratas. A representação compulsiva do negro é um grande fetiche branco. Ele é um amuleto de proteção que exorciza a violência dos corpos e territórios brancos e a deposita sobre os corpos e territórios negros. Ao fazer isso, automaticamente se toma a violação de corpos de territórios negros como legítima defesa. Em 2019, a comissão estava debatendo o excludente de ilicitude, proposto pelo Sergio Moro. É o espelho invertido da escravização que deposita a violência no outro e, a partir daí, toda a violência que se infringe ao outro é legítima.
No cotidiano da segurança pública há uma espécie de restauração de poder da ordem mediante o uso da violência, ameaçado pela democratização, enquanto projeto em desenvolvimento. O mandato de limitação de direitos e garantias fundamentais, efetivamente produzido no cotidiano policial, manifesta continuamente uma reação ao projeto de modernidade enunciado na instauração da República, uma modernidade à brasileira, guiada pela promessa do embranquecimento da população. As instituições policiais, com todas as suas características pré-modernas, seriam, neste contexto abrasileirado, agentes modernizantes, que retroalimentam o imaginário secular de um projeto civilizacional branco.
A luta
A primeira questão dentro desse projeto de civilização branca depende da reprodução da lógica da guerra, então, precisa ter o sertão, isto é, espaços que vão ser retratados como impermeáveis aos mecanismos de controle social da violência. Por consequência, como não se consegue controlar a violência nesses locais, eles são impermeáveis à cidadania.
Quais são esses territórios? Favelas, presídios, socioeducativo, baile funk. Como se estivessem entre parênteses no processo civilizatório e na garantia de direitos, favela e presídio, quilombo e senzala não são territórios excluídos, mas integrados por sua capacidade de evocar antagonismos, ameaças e, neste processo, autorizar combates que legitimam o emprego desregrado da violência em nome da sociedade brasileira. A cidade moderna necessita da urbanidade que não é demonstrável para produzir sua própria identidade, ancorada na ordem, em avanços tecnológicos e na ostentação do consumo, inclusive do consumo da violência.
A segunda questão diz respeito à manutenção de hierarquias raciais. Trabalhei três modelos de interpretação nacional que se alimentam do sistema simbólico da escravização: mito das raças, mito da democracia racial, mito do cidadão de bem. Vou expor alguns aspectos do último.
Nos anos 2000, produto do trabalho de movimentos sociais e da intelectualidade negra, as fantasias da democracia racial são sistematicamente evidenciadas. O Estado brasileiro não só é pressionado a reconhecer que o racismo é um dos principais instrumentos de distribuição de riqueza e violações em nossa sociedade, mas também a promover políticas orientadas para o combate ao racismo. Obviamente que os ataques às instituições estatais não passam “em branco”. Entre as instituições brasileiras, aquelas que são mais vocacionadas para o exercício da morte, a defesa nacional e a segurança pública – as Forças Armadas e policiais –, são também as mais impermeáveis às políticas e ideologias antirracistas. Radicaliza-se, então, seu protagonismo político, evidenciado no descontrole da violência que vitimiza jovens negros nas assombrosas taxas de encarceramento, mas também na maneira como setores brancos da população brasileira chamam por sua intervenção política, e na consequente ocupação do Estado brasileiro, nos níveis do Executivo e do Legislativo, por agentes oriundos dessas instituições.
Violência enquanto linguagem
A penúltima abordagem que fiz é a da violência enquanto linguagem, uma linguagem que não comunica apenas dominação, mas também pertencimento. Isso era muito evidente na Comissão Parlamentar. O corpo negro violável circula nesta estrutura como mercadoria. Aí, ser de bem significa ter a capacidade de violar impunemente esse corpo que está circulando. A ideia de cidadão de bem é comunicada a partir da capacidade de violar impunemente, de violar e não ser punido pela violação. Compreendendo a violência enquanto uma linguagem, é possível observar que esta linguagem é instrumentalizada para que comunique hierarquias sociais que dão forma à nacionalidade brasileira. Toda vez que o projeto secular da supremacia branca é ameaçado, ainda que apenas no plano das ideias, a sobreposição entre o campo simbólico do racismo e o campo da violência é acionada em rituais de violação que tratam de restaurar as hierarquias raciais. Por sua vez, a repetição, sistemática e impune, destes rituais de violação encontra-se numa relação de retroalimentação com o imaginário simbólico do racismo/violência, de onde emergem os fetiches brancos – corpos e territórios negros transformados em índices da violência, capazes de positivar toda e qualquer violência branca enquanto segurança. Esta segurança é, ao fim e ao cabo, um crime da nacionalidade.
Violência como mercadoria
Por fim, tratei da violência como mercadoria, a fim de entender o consumo de narrativas da violência, tanto no sucesso de Os Sertões quanto no sucesso das candidaturas de policiais políticos e na demanda por explicações capazes de restaurar sentidos e orientar condutas em meio à insegurança, real ou fictícia, alardeada. Os policiais, como foi para os bandeirantes e outros grupos, são apenas engrenagens dessa estrutura de poder, da integração nacional mediante violência. Elas abastecem o mercado de corpos violados, mas, para elas, resta apenas um excedente simbólico da violência. Tenta-se preservar a instituição a partir dos valores de honra e bravura, mas sobre os indivíduos é pesada a imagem da selvageria, que os empurra pouco a pouco ou para a autodestruição, e isso gera um problema seríssimo entre policiais no Brasil, ou para tomarem parte do jogo como mercadores de violência. De certa forma, a informalidade policial parece evidenciar que uma parte desses indivíduos já percebeu que dentro das instituições eles são descartáveis. Eles compreenderam os limites dados pela instituição e deram forma ao mercado paralelo da violência, onde o protagonismo deles é mais rentável.
Como considerações finais, consegui notar que existem três operações fundamentais, repetidas:
1) Opera-se um sistema de metáforas entre territórios e populações capazes de reproduzir a lógica racista escravocrata em que a territorialização de uns implica na desterritorialização de outros;
2) Há, em ambas as narrativas, uma espécie de fascínio fóbico sobre ambiguidades;
3) O contato com a violência é para as personagens, Euclides e os policiais políticos, experiência-chave que define a legitimidade de suas narrativas.
Essas três características estão inter-relacionadas e refletem, de certa forma, a historicidade da formação social da nacionalidade brasileira. Dizem respeito à construção de uma sociedade a partir das estruturas hierárquicas e das dinâmicas relacionais da colonização e da escravização da mestiçagem, e da violência como um rito de integração nacional. O que circula entre estes processos, garantindo coerência ao projeto, são os fetiches brancos – representações ameaçadoras de negro-tema, capazes de exorcizar e positivar toda sorte de violência branca enquanto segurança.
O sertão é uma terra em ruína; o homem arruinado é o mestiço. Assim como o sertão, ele é ambíguo e instável. Grande protagonista da invenção da nacionalidade brasileira, a mestiçagem é o produto histórico de uma estratégia de dominação sofisticada. Assim como Euclides inscreve o sertanejo enquanto “rocha viva da nacionalidade”, apenas após a “vitória” republicana materializada na chacina de mais de 20 mil pessoas, o mito da democracia racial monumentaliza o mestiço, um corpo produzido pela violação, enquanto símbolo de nossos triunfos civilizacionais. A ambiguidade inerente à ideia de mestiçagem é a representação que nos permite entender a reprodução secular das lógicas tutelares, que permanecem orientando a produção de políticas de segurança pública em instituições forjadas pelo domínio branco. Para perverter a violação em triunfo e controlar as ambiguidades mestiças, entram em jogo os fetiches brancos, as imagens de corpos e territórios negros como ameaça aos valores de bem, como “obstáculo” a ser superado pela civilização brasileira.
De certa forma, poderíamos dizer que, assim como o sertão é uma metáfora que nos permite compreender o Brasil como terra de promessas que se encerram em espetáculos da violência, o mestiço é a alegoria para a promessa do embranquecimento, para a monumentalização da violência como rito de integração nacional. Nesta grade de significados, a mestiçagem é, ao mesmo tempo, produto e produtora de violência branca, ou seja, a territorialização do mestiço é variável dependente de sua capacidade de assimilar e reproduzir o modelo de autoridade colonial-escravocrata, a violação de corpos não brancos, o que incorre necessariamente em uma espécie de autoviolação.
Em resumo, o Brasil, um estado-nação colonial e escravocrata, se constitui nas disputas por corpos e territórios, com Quilombos e Comunidades Indígenas, em guerras de sertão. Neste sentido, não à toa os movimentos negros investiram na construção da identidade negra enquanto a somatória de pretos e pardos. A estratégia objetiva obstaculizar a transformação da miscigenação em mestiçagem, garante aos pardos referências históricas e simbólicas que enfatizam o pertencimento e permitem sua territorialização de maneira autônoma em relação às dinâmicas de desterritorialização. Ou seja, permitem romper com a lógica de violação que orienta os rituais de integração nacional – as hierarquias raciais.
Por fim, resta uma última reflexão. Vivendo em uma sociedade que cotidianamente é palco de violações atrozes, é muito difícil, e, em minha opinião, um erro estratégico, tratar a violência apenas como um objeto de conhecimento. Como atestam a reprodução de inúmeras pesquisas estatísticas e demográficas sobre a desigualdade racial em termos de corpos e territórios violados, conhecer não é suficiente. Apesar de fundamentais, diagnósticos reiterados talvez nos digam mais acerca da naturalização da violência branca do que nos auxiliem a enfrentá-la. Produzir interpretações que empregam o racismo enquanto instrumento analítico é manipular um referencial simbólico em busca de narrativas capazes de produzir inflexões, de desnaturalizar a violação e enfrentar as dinâmicas de perversão da violência em segurança e da segurança em violência.
Assim como me parece ter sido a estratégia de ressignificação da mestiçagem, é importante encontrar maneiras de narrar que sejam capazes de, por um lado, demonstrar que as relações de violação foram (e são) engrenagem da nacionalidade brasileira e refletem, como a criança cujo rosto é uma chaga aberta, não a existência de um outro ameaçador, mas imagens de nós mesmos.
Tomar Os Sertões como guia para a compreensão de sentidos estruturais da violência no cotidiano brasileiro acabou por me envolver em um exercício autorreferenciado, que reflete, em vertigens, o agonizante mal-estar moderno, um exílio de nós mesmos, “vacilante e sem brilhos”. Terra de messianismos, de soberanias polimorfas, construído em guerra de sertão, o Brasil foi e continua sendo território de Quilombos e Comunidades Indígenas, estruturas sociais que antagonizam o modelo colonial-escravocrata ao produzirem outras formas de compreensão acerca do pertencimento, da liberdade e da autoridade, que podem ser chave para que possamos romper as fronteiras que limitam nossa imaginação política à monumentalização de nossa própria violação.
Leia mais
- “Os Sertões é uma obra matricial para pensarmos a cultura brasileira”. Entrevista especial com Marçal de Menezes Paredes. Revista IHU On-Line, Nº. 318
- Novas perspectivas críticas para uma releitura de Os Sertões. Entrevista especial com Cláudio Aguiar. Revista IHU On-Line, Nº. 317
- Dos esquadrões ao PCC, 52 anos de violência mataram 130 mil pessoas
- Apostas erradas transformam política de segurança pública em guerra
- No Brasil, dois países: para negros, assassinatos crescem 23%. Para brancos, caem 6,8%
- Euclides da Cunha, Kafka, Morrison, Conrad e Balzac: a literatura para pensar o Brasil. Entrevista especial com Kelvin Falcão Klein
- Cidadão de bem ou de cidadão de bens?
- Pesquisa aponta que mortes de jovens negros na periferia resultam de escolhas históricas de governoEntidades cobram ações para diminuir matança de jovens negros pela PM
- Paradigma do punitivismo coloca o Brasil em terceiro lugar no ranking mundial do encarceramento. Entrevista especial com Juliana Borges
- Uma polícia militar e a lógica da guerra
- Acumulação social da violência no Brasil. Entrevista especial com Daniel Hirata
- Pacote anticrime de Moro reedita soluções inconstitucionais e ineficazes. Nota Pública da Conectas Direitos Humanos
- Plano Moro afrouxa regras para policiais que matam e sugere medidas que já foram barradas
- Após massacre de Paraisópolis, Câmara rejeita ampliar excludente de ilicitude
- Enfrentamento da segurança pública precisa superar a lógica dos programas de governo. Entrevista especial com Mário Pires Simão
- O país da Casa-grande
- Uma nova história da literatura brasileira
- Canudos resiste a 120 anos de massacre
- Genocídio e violência no Brasil. Desigualdade e preconceito perpetrados pela sociedade e pelo Estado
- Estatuto do Desarmamento salvou 160.000 vidas, calcula estudo
- Escravidão, e não corrupção, define sociedade brasileira, diz Jessé Souza



 440
440