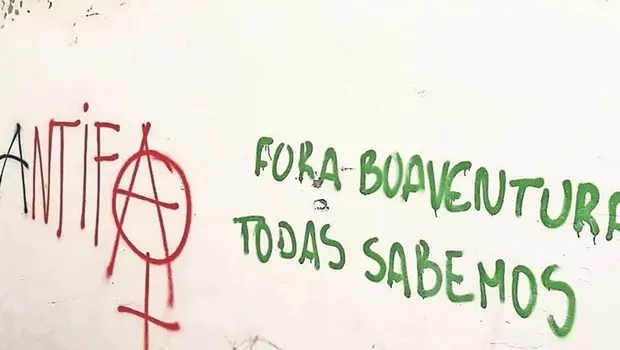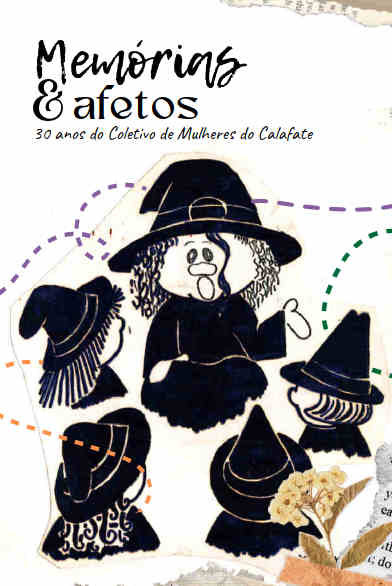Preconceito sentido pelos negros também afeta os povos originários. Legislação prevê penas duras a quem comete esse tipo de crime. "Há sempre a ideia do que aquilo que é diferente é inferior", destaca a antropóloga Alcida Ramos
27/9/2024

"A todo instante, luto contra o racismo." A frase do engenheiro agrônomo, artista e ativista Edivan Fulni-ô, 32 anos, reflete o preconceito sofrido por milhares de indígenas que habitam o Distrito Federal e o Brasil. Tipificado como crime desde 1989, a Lei do Racismo condena a prática ou indução de qualquer tipo de preconceito contra raça, cor e etnia, que pode gerar de um a três anos de prisão.
De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há 5.813 indígenas na capital do país, quantitativo que representa 0,34% dessa população no Brasil. A reportagem do Correio visitou a aldeia Teko Haw, localizada no Noroeste, e conversou com representantes de um dos maiores grupos indígenas do Brasil, o povo guajajara.
Eliane Souza, 22 anos, é estudante de ciências sociais na Universidade de Brasília (UnB), ressalta que a aceitação da comunidade acadêmica não foi fácil de ser conquistada. "Vim do Maranhão e estou em Brasília desde 2007. Quando cheguei, sofri muito preconceito na escola, porque não sabia falar, ler ou escrever em português. Os outros jovens eram cruéis comigo por causa do modo como eu falava", relata.
A universidade foi um espaço importante também para Edivan Fulni-ô entender a própria representatividade. Ele destaca que, desde criança, sente que não é bem-vindo em espaços não indígenas. "Somente na idade adulta, entendi melhor os preconceitos provenientes do meu fenótipo. Quando entrei na universidade, vivendo em uma república indígena, a partir de outros indígenas politizados, conheci as causas de forma histórica, política e de autodefesa", afirma.
Por ser um indígena de pele preta, Edivan relata que sofre o dobro do preconceito. "Diariamente, vivo e sinto muitas ações que ferem minha identidade e minha raiz. Muita coisa me foi negada por causa da minha etnia, principalmente, em termos de oportunidades. Hoje, me considero um 'artivista', pois uso minha música e minha arte para combater o preconceito", ressalta.
A experiência vivida por Eliane na escola não é diferente da vivência diária dos filhos de Deusdete Lopes, 47, liderança que representa o povo guajajara em Brasília. "Nossas crianças sofrem discriminação até hoje na escola. O ônibus não chega na aldeia, portanto, no caminho até a escola, as crianças acabam sujando os pés de poeira e chegam sujos à escola ocasionalmente. As outras crianças destilam muito preconceito, dizem que somos uma raça suja", conta. "Nossos filhos muitas vezes ficam sem querer voltar à escola", acrescenta.
Dona de casa, Deusdete relata que tentou conseguir emprego, mas nunca teve sucesso, porque, segundo ela, sempre que a agência ou o empregador descobre sua origem, o trabalho lhe é negado. "Às vezes, eu passo por um processo seletivo, mas, quando mostro minha documentação, e o contratante vê que sou indígena, não sou contratada", lamenta.
Para Francisco Guajajara, 48, cacique do povo guajajara, o preconceito existe desde que o Brasil foi invadido. "O racismo prevalece até hoje, sentimos na pele todos os dias. Viemos do Maranhão para batalhar pela não violação dos nossos direitos. O preconceito também se manifesta quando temos nossos direitos básicos violados", destaca.
"Inferior"
Segundo a antropóloga e professora emérita da Universidade de Brasília (UnB) Alcida Ramos, o racismo contra indígenas não se refere exclusivamente à cor da pele, mas a estilos de vida que, por serem diferentes, incomodam a maioria dos brasileiros (leia Artigo). "Como, no Ocidente, há sempre a ideia do que aquilo que é diferente é inferior, o racismo contra indígenas se baseia em ideias preconceituosas herdadas da Europa: índio preguiçoso, traiçoeiro, sujo, mentiroso, e por aí vai. É também uma arma de ataque principalmente usada por fazendeiros, grileiros e outros invasores", analisa.

Professora Alcida Ramos
O antropólogo Tarisson Nawa observa que a sociedade brasileira tem dificuldade de lidar com a diferença. "E é nesse processo que existe um movimento de apagamento de algumas identidades, mesmo em um contexto de mistura étnica", diz. "O movimento indígena reconfigura a noção de racismo. Antes se falava muito em preconceitos e estereótipos, mas, se a gente se aprofundar, ele engloba também a folclorização. Nossas práticas culturais e elementos identitários são constantemente atacados por meio do racismo", completa. "Os indígenas tendem a sofrer ainda mais preconceito quando estão trajados com vestimentas tradicionais e pintados com jenipapo ou urucum. Ouvimos muito que aquilo é sujo ou coisa do demônio", enfatiza.
Advogada e presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), Carla Eugênia Nascimento salienta que recebe diversas denúncias de discriminações sofridas pelos indígenas que vivem na capital do país. "São muitos relatos de indígenas que têm o acesso negado a órgãos públicos e privados por conta da vestimenta ou de não estarem usando calçados, por exemplo", diz. "O conhecimento é a principal ferramenta contra o preconceito. Falta uma sensibilização e alinhamento de todas as esferas públicas. O esclarecimento tem que vir para todos, desde quem trabalha na portaria até o chefe máximo de cada órgão público e privado", complementa.
A jurista é diligente no acompanhamento das demandas dos indígenas e na busca por justiça. "Temos um caso que aconteceu no Aeroporto de Brasília, em que uma indígena entrou em uma loja com as vestimentas características de seu povo e foi acompanhada o tempo inteiro pela funcionária, atitude que não se repetia com outros clientes. A OAB foi acionada, houve uma ação judicial e um pedido de desculpas público por parte da loja. O racismo e a injúria atingem a honra e a intimidade das pessoas. Não podemos deixar impune", reforça Carla.




 548
548