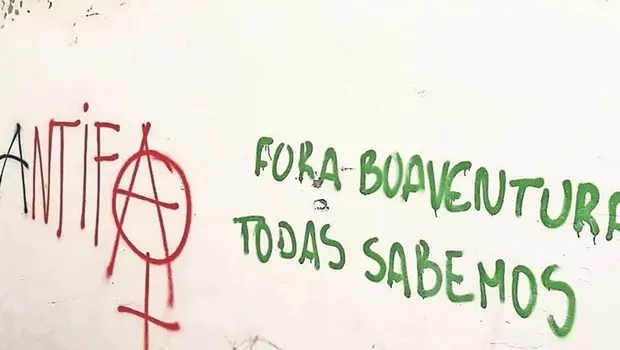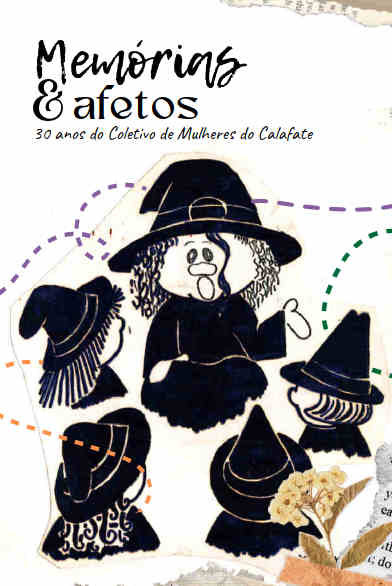Filha de sírios, Maha Mamo nasceu no Líbano, mas, por conta das leis locais, não pôde ser registrada como libanesa. Passou 30 anos sem existir para nenhuma sociedade até obter, em 2018, a cidadania brasileira

Imagine não ter certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF ou qualquer outro documento que ateste sua existência. Não poder ter acesso a direitos básicos, como ir à escola, receber atendimento em um hospital ou andar pelas ruas sem medo de ser parado por uma autoridade policial e não ter como comprovar quem você é. Durante 30 anos, Maha Mamo viveu dessa forma, sem fazer parte de nenhuma nação, impedida de ter uma nacionalidade. Ela era o que o direito internacional chama de apátrida.
Filha de sírios, Maha nasceu no Líbano, país onde o pai, cristão, e a mãe, muçulmana, refugiaram-se para viver o seu amor — na Síria, os casamentos interreligiosos são proibidos. Na nova morada, o casal teve três filhos, mas como, pelas leis locais, o direito à cidadania é sanguíneo pelo lado paterno — e não territorial, como no Brasil —, não pôde registrar as crianças. "É muito difícil, porque você existe como ser humano, mas, ao mesmo tempo, não tem nenhum direito básico", resume.
Por muitos anos, Maha não tinha consciência de sua condição de apátrida. Quando criança, vivia uma vida "normal". Depois de muita insistência da mãe e de levar muitos nãos na busca por um colégio para os filhos, o diretor de uma escola armênia se sensibilizou com a situação das crianças, impedidas de ter uma educação formal, e permitiu que elas estudassem na instituição. Maha também fazia parte de um grupo de escoteiros e do time de basquete do colégio.
Foi na adolescência, quando foi recrutada por um outro time de basquete e não pôde ir porque não tinha documentos, que a ficha de Maha caiu. "Eu tomei consciência que tinha alguma coisa que eu precisava saber e resolver", conta. Até descobrir sua condição de apátrida, termo desconhecido, até hoje, pela maior parte da população mundial, foi uma longa caminhada. Maior ainda foi a jornada até conseguir que algum país se sensibilizasse com sua história e lhe desse abrigo.
O país que estendeu a mão para Maha e seus irmãos, Eddy Mamo, dois anos mais novo que ela, e Souad Mamo, dois anos mais velha, foi o Brasil. Por causa da guerra na Síria, o país estava fornecendo vistos humanitários, e os irmãos encontraram ali a oportunidade que precisavam para sonhar com um futuro.
Militância

Os primeiros anos no Brasil não foram fáceis. Mas as dificuldades com a língua, em encontrar um emprego e, sobretudo, para regularizar a situação legal no país não desanimaram Maha. A morte de Eddy, aos 26 anos, antes de obter a cidadania, mudou o foco de luta da jovem. O rapaz foi assassinado em uma tentativa de assalto, em Belo Horizonte, por três adolescentes, sem nunca ter tido uma certidão de nascimento. "A única coisa que a gente conseguiu, que eu falo, graças a Deus, foi dar a ele uma mínima dignidade humana, que foi o atestado de óbito", emociona-se.
A partir dessa tragédia familiar, Maha se tornou uma militante. Não queria morrer uma apátrida. Participou ativamente de reuniões, em Brasília, que resultaram na elaboração da Lei de Imigração, de nº 13.445, aprovada em 2017. Ela passou a ter um capítulo que fala sobre apatridia, até então inexistente na legislação brasileira. "Hoje, no governo, a gente tem pessoas capacitadas que estudam, caso a caso, e conseguem falar se a pessoa é realmente apátrida ou não. Daí, eles vão te dar um documento que te reconhece como apátrida e, depois, esse documento vai facilitar a sua naturalização", detalha. Maha e a irmã, Souad, foram as primeiras beneficiadas com a mudança e, em outubro de 2018, conseguiram a tão sonhada cidadania brasileira.
Hoje, aos 35 anos, casada com uma das primeiras pessoas que a ajudaram no processo de legalização no Brasil, Isabela Sena, Maha vive em Paris, ao lado da "companheira de vida, amor da minha vida", mas roda o mundo compartilhando sua história e ajudando outras pessoas apátridas. "Eu trabalho como palestrante, então eu tô no mundo inteiro." Souad, que é engenheira da computação, vive em Portugal, onde conseguiu emprego na área, com a mãe, Kifah Nashar. O pai, Georges Mamo, permanece no Líbano. Os dois se separam.
Em uma conversa por videochamada, Maha Mamo conversou com o Correio, falou sobre a sua saga, que já foi contada no livro Maha Mamo: A luta de uma apátrida pelo direito de existir, escrito com o jornalista Darcio Oliveira e publicado em 2021. Em breve, sua história deve ganhar as telas do cinema em um filme feito pelo cineasta Bruno Barreto. "Será uma ficção baseada em fatos reais", adianta. Confira a entrevista.
A falta que faz a cidadania

Você existe como ser humano, mas, ao mesmo tempo, não tem nenhum direito básico.Todas as coisas básicas que você faz no dia a dia, eu tinha que pensar duas vezes antes de fazer. Por exemplo, andar na rua e ser parada pela polícia, em uma blitz. No Líbano, tinham muitas bombas, a situação era muito instável, então, eles paravam todo mundo. Cada vez que eu via uma blitz na rua, tinha que correr para o outro lado, sem ter armas, drogas, nem nada, simplesmente porque eu não tinha documento. Não podia ir para a escola, até que a minha mãe conseguiu colocar a gente numa escola Armênia, pedindo favor ao diretor para nos aceitar. Tenho crises de alergia e, quando essa alergia ataca, preciso ir para o hospital. Na primeira vez em que cheguei na urgência, eles não me deixaram entrar porque eu não tinha documento para apresentar. Outras coisas, como comprar um chip de telefone, ter conta bancária, viajar… Viajar já é um pouco mais de luxo do que direitos básicos, mas o direito de ir e vir eu não tinha. A vida de um apátrida é uma vida nas sombras, uma vida em que você vive sem ter existência legal, então você existe e não existe, você não está lá 100%.
Consciência da condição
Quando eu era criança, estava na escola, tinha a mesma educação, mesmos professores, tudo igual a qualquer um que estava lá; eu era escoteira e jogava basquete. Então, na adolescência, eu fui recrutada para jogar com um time profissional fora da escola. Foi lá que eles me falaram: "infelizmente, você não consegue jogar". Aí, eu fiquei pensando: "será que é porque meus pais são sírios e eu não consigo jogar em um time libanês?". Nesse momento, comecei a ter consciência que tinha alguma coisa errada em mim. O segundo momento foi no escotismo. Meu time era todo formado por mulheres, e elas organizaram uma viagem para a Jordânia. Eu pensei: "que perfeito, vai ser legal". Quando falei com meus pais, eles me disseram que eu não podia viajar. Para mim, foi a maior decepção, eu tomei consciência que tinha alguma coisa que eu precisava saber e resolver. Mas dentro de casa era impossível, porque, para eles, era muito claro: "você não pode". E acabou ali a conversa.
Inconformismo
Eu confrontava muito minha mãe, meu pai, tivemos muitas brigas, porque eu queria entender o porquê. Por que a gente era diferente? por que eu não posso ser igual aos outros? Meus pais tinham colocado muitas regras dentro da casa: "vocês não podem sair com os amigos, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo…" Para eles, era um jeito de nos proteger. Era controlar para a gente não se arriscar em nada, não se arriscar a ser preso… Eles tentavam controlar a situação, mas eu fiquei muito abalada e, depois de muitas perguntas e muitas brigas, comecei a tentar achar uma solução fora.
Os primeiros passos
Eu tinha uma melhor amiga, a Nicole, que conheci no escotismo. Era mais fácil me abrir com ela e com a família dela, porque não tinham contato direto com meus pais, eles viviam em outro bairro. Os pais dela eram mais abertos, eram libaneses. A mãe dela trabalhava no Ministério de Educação, então a conversa era bem mais fácil. Foi ali que eles começaram a me apoiar, a fazer perguntas a advogados, a querer me adotar. Enfim, começaram a tentar achar uma solução, a conversar com os meus pais. Tentaram entender e me explicar. Foi ali que eu comecei a estudar as leis do Líbano e da Síria. Por que eu não posso ser libanesa nem síria? Foi com a idade de 15, 16 anos que eu comecei essa busca.
A relação com os irmãos

Meu irmão era mais novo e, como era "o homem da casa", era mais mimado. No Oriente Médio é um pouco diferente o jeito como eles tratam a mulher e o homem. Ele ia para o trabalho com o meu pai, ficava colado nele. Minha irmã, como era dois anos mais velha, tudo o que acontecia de problemas batia primeiro nela. Ela também era escoteira, jogava basquete, também foi recrutada para um time, mas o jeito de ela reagir era um pouco diferente de mim. Ela se fechou.
Pedido de ajuda
Eu descobri que era diferente, mas não sabia a palavra em si, que é apátrida. Mesmo eu estando vivendo como apátrida, eu não tinha a definição da minha situação. Aí eu comecei a mandar pedido de asilo: “me ajuda aí que eu não posso jogar basquete, que eu não posso me casar, que eu não posso ter família, que eu não posso ir e vir…” Coisas bem adolescentes (risos). Comecei a escrever alguns e-mails e a mandar para as embaixadas. Foi a Embaixada dos Estados Unidos que me falou: seu caso tem uma definição, você é um stateless, como é apátrida em inglês. Foi aí que meus olhos se abriram e eu comecei a busca mais profunda. Peraí, eu sou stateless? Eu tenho que pedir asilo de apatridia? Comecei a mandar mais cartas baseadas nisso. Não há informação on-line, tem uma organização ou outra que cuida disso, mas é mais de estudos, de educação. Na época, a Embaixada dos EUA disse que eu tinha que falar com a Acnur (agência da ONU para refugiados). Eu fui, lá no Líbano, mas simplesmente eles falaram: “a gente sente muito, mas não é uma coisa que a gente consegue ajudar em nada, só colocar aqui os dados, é mais uma história para ter”.
Clareza sobre o caminho a trilhar
Sabe quando tudo começa a refinar? Comecei também a estudar na universidade, o meu inglês melhorou e o jeito de escrever a carta também. Eu tenho a primeira carta, que parece uma adolescente rebelde e, depois, viro uma profissional. Eu escrevi em um formato mais legal, e comecei a receber as negações. Todo mundo falava: sinto muito pelo seu caso, mas, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Quando me respondiam, né? Eu mandei para todos os países possíveis. Eu não tinha como ir às embaixadas conversar pessoalmente porque você tem que apresentar algum tipo de documento, que eu não tinha. Eu abria o Google, olhava as embaixadas em Beirute, pegava o e-mail e começava a mandar. Eu conversei com todos os partidos políticos e religiosos… qualquer coisa que me desse um pouco de esperança. A gente tentou de tudo, a gente foi enganado, foi roubado. Muitas pessoas falavam: “tem jeito, claro, porque você nasceu aqui. Eu conheço o primeiro-ministro, que pode ajudar. Paga aí pra gente, que a gente faz”. Aí a gente pagava e não tinha nada. A pessoa pegava dinheiro e sumia.
O papel dos pais
Eu cheguei num ponto que não contava mais para eles. Eu sempre ficava triste com cada não que recebia. Contava para minha mãe e ela falava: “para que você está fazendo isso? Você sabe que não vai dar certo”. Para ela, já era: “desiste aí, tenta viver uma vida normal aqui, do jeito que todo mundo está vivendo”. Com o meu pai era diferente, porque ele era muito mais crítico, a gente nem contava nada. Mas, por exemplo, quando a gente conversou com um cara que trabalhava realmente com o primeiro-ministro e precisou de dinheiro, ele apoiou com dinheiro. Então, nessas pequenas coisas, ele apoiava. Mas, para ele, também não tinha solução. Para eles, era muito difícil. Hoje eu entendo, mas, na época, eu era muito rebelde e não entendia.
Ingresso na universidade
Quando acabei a minha escola, tinha notas muito boas e queria fazer medicina. Então, fui para a universidade fazer meu registro. Lá, o administrador pegou minhas notas, olhou para mim e falou: “você está brincando comigo? Eu quero seus documentos”. Tentei explicar para ele, mas ele não me deixou, pegou as notas e jogou na minha cara. Ele meio que ficou ofendido, achando que eu estava tentando estudar sem ter documentos, que eu não tinha levado os documentos porque não queria. Quando eu saí de lá, fiz uma lista das faculdades que existiam no Líbano e comecei a ir, uma por uma, para explicar o meu caso. Fui negada em todas, até que um o diretor quis ouvir o meu caso. Por coincidência, ele é brasileiro, não tem nada a ver, mas, depois, eu pensei: “nada acontece por acaso”. Ele ouviu a minha história, quis ajudar eu e minha irmã, mas falou que não tinha medicina. Eu falei: “tá, o que que vocês têm nessa universidade?” Foi assim que eu escolhi o sistema de informação. Ele nos colocou como estagiárias dentro da universidade, trabalhando oito horas por dia e ganhando um desconto nos estudos. Depois, arrumei um emprego fora, porque amigos conversaram com amigos, mas sempre ganhando menos do que os outros e com medo, porque eles me falavam: “se houver alguma fiscalização, você tem que sair daqui correndo, a gente não quer ser penalizado”.
Primeira ajuda veio do México
Em 2013, eu estava trabalhando com a Embaixada do México, traduzindo alguns documentos. O cônsul ficou muito emocionado com minha história e queria achar um jeito de me ajudar, mesmo sabendo que eu não teria um passaporte para viajar. Na época, quando as negociações com o côsul mexicano começaram a ir para a frente, eu parei com as minhas pesquisa porque, obviamente, estava focada no México. Foi quando eu abri o jogo para meus pais e meus irmãos, falei: “eu tô indo para o México”.
As negociações com o Brasil
A minha irmã também começou a mandar cartas para todas as embaixadas, e o Brasil respondeu a ela. Eu estava aguardando uma solução do México. A Embaixada do Brasil falou: “vem para cá e traz esses documentos traduzidos”. Eu falei: “você tem que ir para a gente ver, né? Porque se rolar o Brasil antes do México, a gente vai para o Brasil. O México já está demorando quase um ano”. Em duas semanas, eles ligaram para ela. É triste falar isso, mas foi a guerra na Síria que abriu o nosso caminho, porque o Brasil estava emitindo vistos humanitários para os sírios que não tinham documento. Não era um passaporte, mas um documento de viagem com visto humanitário. Então, a nossa ida para o Brasil foi como refugiados, em 2014. A minha irmã veio primeiro; depois eu e meu irmão viemos.
A chegada ao Brasil

Eu nunca tinha viajado na minha vida, não conhecia nada do Brasil, o único contato que a gente tinha era a Copa do Mundo, que a gente torcia para o Brasil, o carnaval, e só. As pessoas diziam: “cuidado, é muito inseguro”. Então, o nosso medo começou a crescer, a gente pensava: “tá, a gente vai para o Brasil, mas onde no Brasil? O país é um continente, a gente não conhece ninguém, nem tem ninguém que possa nos ajudar”. Na embaixada, tinha ficado muito claro que eles não ajudariam. Então, onde a gente vai dormir? O que vai comer? Na minha cabeça, ficava pensando: “passei 10 anos em busca de uma solução, e ela veio em duas semanas. Será que tem um esquema de tráfico humano?”. Aí, eu pesquisei nas redes sociais, abri o Facebook, coloquei Brasil e apareceram as pessoas que já tinham feito check-in no país. Hoje, poucas pessoas usam (essa ferramenta), mas, em 2014, usavam muito. Uma das minhas amigas tinha vindo em 2013 ao Encontro da Juventude, com o papa, que aconteceu no Rio de Janeiro. Ela tinha vindo com jovens libaneses e tinham sido acolhidos por jovens brasileiros, em Belo Horizonte. Por três dias, esses jovens brasileiros da igreja os levaram para passear, convivendo juntos, e, depois, foram para o Rio, para o encontro com o papa. Essa minha amiga falou: “eles parecem gente boa, legais, mas não sei nada deles. Esses são os nomes e os números, vê o que vai dar”. Eu mandei um texto pedindo ajuda, a família abriu as portas e falou: a gente ajuda com o que dá. Essa família vive na periferia de Belo Horizonte, eles nos deram o primeiro andar da casa, que o pai estava construindo para a filha, professora de inglês, começar a dar aulas ali, coisa muito simples.
Os primeiros desafios
Quando eu e meus irmãos chegamos, a gente falou: “e agora? Como que vai ser? O que eu tenho que fazer para ficar legal?”. A família não sabia nada. Na época, refugiado não era uma coisa muito comum dentro do Brasil, e apátrida eles nunca nem tinham ouvido a palavra, claro. A prima de um amigo dessa família, a Isabela Sena, estudou relações internacionais, estava trabalhando como voluntária em uma ONG em Belo Horizonte, falava inglês e trabalhava na Fiat com imigração, movendo pessoas. Ela me explicou, então, duas coisas. A primeira é que dentro da legislação brasileira não existia nem a definição de palavra apátrida, então, não havia o mecanismo para me dar nacionalidade. Mesmo vivendo por 10, 20 anos no Brasil não tinha como eu virar brasileira. O segundo jeito para ficar legalmente era pedir refúgio. Quando eu pedisse refúgio, eles me dariam CPF, carteira de trabalho e eu ficaria com um protocolo até que a decisão saísse. Eu conseguiria viver dentro do país legalmente, mas não conseguiria viajar. A gente pediu refúgio, tirou o CPF e a carteira de trabalho. Aí foi um outro desafio muito grande: infelizmente, até hoje, os imigrantes refugiados, dentro do Brasil, sofrem com um mercado de trabalho que não tem integração, não tem preparação nas empresas para receber pessoas diferentes. O único emprego que eu e meu irmão conseguimos foi panfletar nas ruas. Minha irmã começou a trabalhar numa padaria e eu comecei a estudar mais sobre apatridia.
Início da militância

Em novembro de 2014, a Acnur, que é a agência das Nações Unidas para refugiados, lançou uma campanha chamada Eu Pertenço, que falava que, no mundo inteiro, na época, em 2014, existiam mais de 10 milhões de apátridas. Esse número é estimado, porque não tem como saber quantas pessoas realmente são. Aí, eu entrei em contato com a Acnur no Brasil e, no mesmo dia, recebi uma ligação de uma moça, que falou: “obrigada por entrar em contato, o Brasil não tem lei (sobre a apatridia), mas vamos ver (se muda) com essa campanha, que vai durar 10 anos”. Eles falaram que em 2024 acabariam com a apatridia no mundo. Eles me chamaram para um evento, eu fui e compartilhei minha história. Foi assim que eu comecei a aprofundar mais, a entender sobre o assunto, a participar dos eventos e a aprender mais. Em maio de 2016, nossos pedidos de refugiados foram aceitos e a gente conseguiu residência no Brasil. Para a gente, foi uma conquista, foi o primeiro sonho realizado. Esse documento de residência me dava o direito de tirar uma carteira de habilitação e a ter plano de saúde, me dava essas pequenas coisas, mas que, para mim, eram muito grandes. Tudo começou a tomar forma nas nossas vidas.
Tragédia familiar

Depois de um mês, meu irmão sofreu uma tentativa de assalto, foi baleado e faleceu em Belo Horizonte. Ele ainda morreu apátrida. A única coisa que a gente conseguiu, que eu falo, graças a Deus, foi dar a ele uma mínima de dignidade humana, que foi o atestado de óbito. Ele não teve certidão de nascimento, mas como foi refugiado reconhecido no Brasil, a gente conseguiu dar a certidão de óbito a ele. A gente estava cheio de planos, cheios de vida, e uma bala disparada ali, por três adolescentes, abortou tudo. Ele tinha 26 anos.
Luta pela nacionalidade
Depois disso, a minha luta mudou. Eu não queria morrer como uma apátrida. Comecei a dar mais entrevistas, a falar muito mais sobre a nossa história. Comecei a compartilhar muito mais, falando eu quero a nacionalidade. Foi assim que eu comecei a ir a Brasília para participar das negociações sobre a nova Lei de Imigração, a Lei nº 13.445, aprovada em 2017. Ela, hoje, tem um capítulo que fala sobre apatridia, tem a definição da palavra apátrida e um mecanismo de reconhecimento de uma pessoa apátrida. Hoje, no governo, a gente tem pessoas capacitadas que estudam, caso a caso, e conseguem falar se a pessoa é realmente apátrida ou não. Tendo todos os requisitos, você consegue ter a nacionalidade brasileira. Em 4 de outubro de 2018, eu e minha irmã fomos as primeiras na história do Brasil a sermos reconhecidas e naturalizadas brasileiras, a gente conseguiu a nacionalidade brasileira.
Falando para o mundo

Ainda há muita má informação. Eu mesmo não sabia que era apátrida. Existe muita gente que não entende, não sabe que é apátrida. Então, o trabalho que eu estou fazendo hoje, depois de ter conseguido a nacionalidade, é de conscientização, de levantar essa bola, de falar sobre a apatridia, de deixar as pessoas consciente que esse problema existe, de falar para eles que o Brasil virou exemplo para o mundo inteiro, não só nas mudanças da lei, mas também em aplicá-la. Também faço consultoria com os governos, com as empresas, para conseguir contribuir, além do Brasil, com as mudanças das leis em outros países. Na Argentina, eu consegui (contribuir) uma mudança, não na lei, mas em um projeto específico, no Chile, no Panamá, na Costa Rica… Teve um que me tocou muito, na Colômbia. Eu consegui ajudar mais de 50 mil crianças nascidas na Colômbia, mas que eram apátridas. Os pais eram refugiados venezuelanos e a Colômbia não os aceitava, e a Venezuela falava: “vocês estão fora, não são venezuelanos”.
Profissão
Isso faz parte do trabalho voluntário de direitos humanos, mas não dá dinheiro para viver. Hoje, eu tenho a minha empresa no Brasil, em que faço palestras no setor privado sobre a inclusão e a contribuição que os refugiados, os apátridas, os imigrantes podem trazer para as empresas.
Realização pessoal

Eu me encontrei como pessoa, achei o sentido da minha vida. Achei o amor da minha vida, meu apoio, a Bela (Isabela Sena) é meu tudo. Ela trabalha na Fiat, então o trabalho deu a ela a oportunidade de se mudar para os Estados Unidos, e eu me mudei com ela, porque o trabalho como palestrante me permite isso, eu viajo o tempo todo. Desde janeiro, estamos morando em Paris.
Missão do irmão

Eu acredito em Deus, então, para mim, se meu irmão não tivesse morrido naquele assalto, ele podia ter morrido dormindo na cama, no Líbano, andando na rua… Eu acredito que aconteceu porque precisava acontecer, que a missão dele na vida era trazer a gente para o Brasil, porque meu pai, como machista, como um homem do Oriente Médio, nunca ia deixar duas mulheres viajarem sozinhas para o outro lado do mundo sem ter um homem com a gente. Claro que, hoje, mesmo depois desse tempo todo, ainda dói muito. Mas a minha fé fala que tudo aconteceu por uma missão muito maior.
Amor pelo Brasil
O Brasil é o meu país, é onde eu pertenço. Eu sempre falo que amo o Líbano, que o Líbano é a minha mãe, mas o Brasil é o parceiro que eu escolhi para minha vida inteira. Todo mundo me chama de embaixadora do Brasil, porque ninguém pode falar mal do Brasil na minha frente nem nas minhas costas.





 352
352