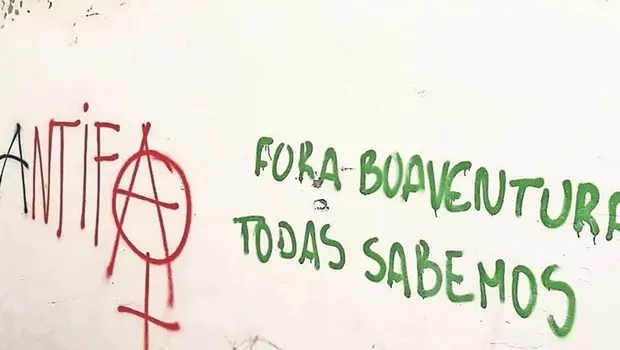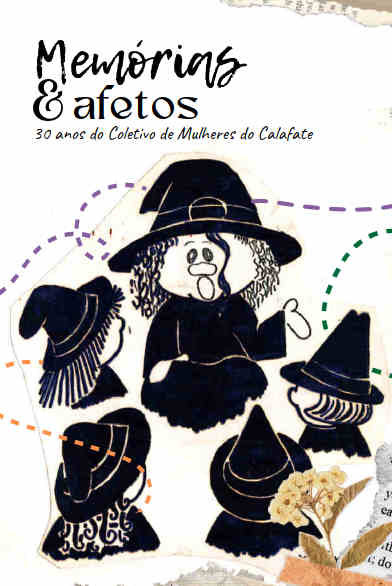Historiador do Benin destrincha os golpes recentes e as reconfigurações de poder. Aponta: desiludida, população apoiou as mudanças, como saída ao colonialismo. Mas para vencê-lo de fato será preciso construir um pan-africanismo popular
Publicado 25/09/2023 às 19:14

Amzat Boukari-Yabara em entrevista a Jonathan Baudoin, no Nuso | Tradução: Rôney Rodrigues
Depois do golpe de Estado no Níger , em julho desta ano, veio o golpe de Estado no Gabão, em agosto, que marca o fim do domínio da família Bongo sobre este país francófono da África Central desde 1967, com Omar Bongo e o seu filho Ali. Se somarmos os golpes de Estado na Guiné, no Mali e no Burkina Faso, cinco países desta parte de África sofreram uma mudança de regime nos últimos dois anos. Isto expressa um questionamento da política francesa sobre as suas ex-colônias, a rejeição da Françafrique (uma forma de relação neocolonial da França com as suas ex-colônias) pela juventude dos países francófonos e a perspectiva de renovação do pan-africanismo. O historiador beninense Amzat Boukari-Yabara, atual presidente da La Ligue Panafricaine-Umoja, analisa esta situação, que tem muitos aspectos geopolíticos. Boukari-Yabara é o autor de Africa Unite! Une historie du panafricanisme [África Unida! Uma história do pan-africanismo] e codiretor da obra coletiva L’Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la Françafrique [O império que não quer morrer, uma história de Françafrique].
Como você analisa os golpes de Estado dos últimos meses no Níger e no Gabão?
Os golpes de Estado que ocorreram este verão nestes dois países são de natureza diferente e também têm causas diferentes. No caso do Gabão, uma família e um clã permaneceram no poder durante quase 60 anos, apesar dos protestos populares. Este regime já deveria ter caído em 2016, quando Ali Bongo teve que recorrer à fraude para se manter no poder. Houve uma repressão violenta, um banho de sangue. Em 2023, eram esperados novos protestos populares e uma consequente repressão e, embora parecesse mais provável que Ali Bongo permanecesse no poder, a possibilidade da sua eventual queda estava aberta, dada a dinâmica (geo)política atual. No final, houve um golpe de Estado eleitoral com a proclamação da vitória de Ali Bongo, imediatamente seguido de um golpe de Estado militar, que as forças armadas justificaram como forma de evitar um banho de sangue. Mas isto parece mais uma revolução palaciana, uma renovação das formas de controle do poder pela elite. Uma parte do clã Bongo está por trás do general Oligui Nguema, o novo presidente de transição. Outra parte foi retirada do poder de forma negativa. É uma ruptura de continuidade muito importante do ponto de vista simbólico porque não ter um Bongo à frente do Gabão quebra uma barreira psicológica. É um golpe de Estado que recebeu o apoio daqueles que têm o hábito de condenar os golpes de Estado, especialmente a França.
No caso do Níger, estamos perante um golpe de Estado militar que destituiu um presidente com legitimidade democrática, embora isto não signifique muito no contexto nigerano. Este golpe insere-se no contexto da crise de segurança no Sahel – uma região onde as ameaças terroristas alimentaram a presença militar francesa: além dos mencionados, tivemos golpes de Estado no Mali e no Burkina Faso entre 2021 e 2022.
O motim nigerino também faz parte dos confrontos internos do exército e do poder mas, como no Gabão, responde ao mesmo tempo às expectativas de mudança da população, que acolheu com expectativa estes golpes de Estado. No entanto, ao contrário do Gabão, há uma forte condenação por parte da França. E dentro da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), eclodiu uma verdadeira crise em que o Níger é visto como um casus belli. Surgiram reações que não tinham sido vistas no Mali e no Burkina Faso, como a possibilidade de intervenção militar. O golpe no Níger é importante porque Mohamed Bazoum, o presidente deposto, é um aliado leal da França. O Níger é um lugar importante para Paris devido às suas reservas de urânio. Mas, ao contrário do Gabão, também conta com a presença de militares estadunidenses. Isto desempenha um papel importante no campo diplomático. No Gabão, por outro lado, a vez de Ali Bongo aderir à Commonwealth foi interpretada pela França como uma declaração de guerra e o sinal de que um peão tinha sido mudado sem derrubar o sistema.
Com estes golpes de Estado levanta-se a questão das novas formas de lealdade entre a França e as suas ex-colônias, após mobilizações populares que tentam fazer-se ouvir em todos os níveis, mas que também se desenvolvem em quadros geopolíticos mais amplos e complexos.
Será que estes acontecimentos ilustram tanto uma profunda desaprovação do modelo instalado pela chamada Françafrique como uma desilusão em relação à democratização na África francófona, ou apenas um ressentimento antifrancês como alguns políticos e meios de comunicação franceses parecem sugerir?
Honestamente, o problema é que parece que as opções das populações africanas se limitam à fraude ou aos golpes de Estado. Eu diria que estas crises colocam em primeiro plano a questão do modelo político, bem como a falta de Estado de direito e a impunidade prevalecente. São elementos muito importantes que não são destacados quando se fala da desilusão da população destes países com a democracia e a política.
O sentimento antifrancês é o resultado de uma política de controle, de predatória, de dominação, de humilhação em alguns casos, à qual os regimes atualmente em questão não são alheios. Acredito que ao manter Bazoum prisioneiro no seu palácio presidencial, há uma forma de humilhação por parte dos generais nigerinos que responde à arrogância do presidente deposto, mesmo contra o seu próprio exército. Por outro lado, no caso do Gabão, o vídeo do deposto Ali Bongo apelando ao mundo para “fazer barulho” para alertar sobre a situação dele e da sua família é também uma forma de humilhação, mas da qual ele próprio é o primeiro responsável. Os poderosos que reinaram sob o terror estão agora nus. As imagens de malas no valor de milhões de francos CFA, filmadas e utilizadas para publicidade pela junta militar, são também uma forma de humilhação para os indivíduos que pensavam que o dinheiro podia comprar tudo. Os golpes de Estado incluem sempre também ações midiáticas que devem ser apoiadas em imagens chocantes para difundir o discurso de um antes e um depois à opinião pública.
O sentimento antifrancês também é construído e difundido através do uso das redes sociais. Basta que haja duas bandeiras russas numa manifestação de 20 mil pessoas para falar de manipulação por parte dos russos. Basta uma bandeira francesa queimada por uma dezena de pessoas para que se espalhe por toda uma população um sentimento que permite deslegitimar a raiva e o protesto, reduzidos a uma simples manipulação dos africanos, incapazes de reflexão. O chamado “sentimento antifrancês” é também uma forma pela qual a França procura apresentar-se como vítima dos golpes de Estado e da propaganda russa, e dizer a si mesma que não tem nada para se culpar porque tudo seria uma consequência das ações de um rival malicioso e não das suas próprias políticas.
Este sentimento não está alheio à recusa da França em compreender que as coisas devem fluir. A França sente-se alvo, vítima de tudo o que acontece nas suas ex-colônias porque tem um acordo pessoal com regimes e líderes, não com os Estados e os seus povos. Bazoum é o homem da França. Se Bazoum for removido, a França leva isso muito para o lado pessoal, em vez de analisar a situação, sendo mais pragmática, como os estadunidenses, os chineses, os alemães, os canadenses, etc. Quando Idriss Déby, o presidente do Chade, foi assassinado, a França ajudou a instalar o seu filho no topo do poder em vez de apoiar o processo previsto na Constituição, uma vez que o vínculo franco-africano é mais forte do que o respeito republicano pelas instituições. Emmanuel Macron viajou pessoalmente para N’Djamena, capital do Chade, porque se tratava de um “assunto pessoal”. A França deve demonstrar que está presente ao lado dos seus aliados, que os defende, que os legitima. Foi o caso de Alassane Ouattara, a quem Nicolas Sarkozy, seu “amigo pessoal de 20 anos”, ajudou a tomar o poder na Costa do Marfim. Os amigos africanos da França são apoiados, custe o que custar. Essa teimosia acaba justificando as nossas próprias reações contra ela. O sentimento de rechaço à interferência francesa é evidente entre a população mobilizada. Depois, há outros setores da população que não estão particularmente mobilizados ou não veem como atacar a França pode realmente mudar alguma coisa na sua situação.
A reação do poder francês, em particular no que diz respeito ao golpe de Estado no Níger, mostra a manutenção de uma visão franco-africana da política externa sob Macron, sob o risco de estar em contradição com as realidades e aspirações do pessoas dos países da África francófona?
Acredito que a França enfrenta hoje líderes que não querem necessariamente romper, mas que acolhem outros sócios, num contexto em que a França considera que o simples fato de se abrir à concorrência geopolítica constitui um motivo de ruptura. A perda de exclusividade e monopólio não é aceitável. A França saiu do Mali levando o álibi da presença russa, e mais precisamente dos milicianos do grupo Wagner, chantageando o regime de transição em Bamako. Há algo na ordem de manutenção da exclusividade, do monopólio, que gera problemas e que faz parte da lógica da Françafrique. No Níger, Bazoum foi o representante da França na região. Há também interesses relacionados a questões migratórios e geoestratégicas. Mas, em termos gerais, a reação francesa ao Níger é basicamente neocolonial.
A decisão de Macron de manter o embaixador, cujas novas autoridades já não aceitam, sob o pretexto de que a França só reconhecerá a autoridade do presidente deposto Bazoum, não é sustentável. Seria necessário mais pragmatismo e flexibilidade, e menos frontalidade e exagero. Mas para a França é complicado porque teme um efeito dominó. Se recuar em qualquer uma das suas antigas colônias, teme que a sua força dissuasora entre em colapso em todas as outras. Se apega, em vez de antecipar e recalcular. Entramos num esquema tipicamente “franco-africano”. Isto é tanto verdade que a França recorre a outras instituições, como a referida Cedeao, através dos presidentes que lhe estão próximos – os da Costa do Marfim, do Senegal e do Benim – para tentar promover a sua estratégia e soluções.
Como historiador do Pan-africanismo, pensa que estes golpes de Estado podem fazer parte de uma perspectiva Pan-africana?
Acho que são golpes de Estado que cada um tem a sua história interna. As situações são muito diferentes dependendo dos países. Os golpes de Estado também não são uma garantia de pan-africanismo ou de oposição à França. No Senegal, onde não houve golpe, os protestos são sem dúvida muito mais fortes do que no Níger ou no Gabão. Ler estes elementos através do prisma exclusivo dos golpes de Estado é reducionista e errôneo. A dificuldade é que a França lê a política africana, o ritmo das sociedades africanas, apenas em relação ao que se move, ao que muda. Mas ele não vê tudo o que perdura. A questão do pan-africanismo ainda me parece bastante vaga porque os homens que chegaram ao poder em diferentes países podem ter uma retórica pan-africana, mas na prática as coisas são mais complexas.
No entanto, há alguns jovens que empurram, que marcham de Dakar a Bamako, de Conacri a Bamako, de Bamako a Ouagadougou, com a vontade de avançar para o pan-africanismo. Um pan-africanismo do povo. Mas não foi em nome do pan-africanismo que ocorreram golpes de Estado. Podemos dissociar golpes de Estado e pan-africanismo e questionar-nos sobre o fim destas transições, o que necessariamente repensará a relação com instituições que se autoproclamam pan-africanas mas que podemos constatar que na realidade não o são. Penso na Cedeao, na União Africana. Quando o Mali regressar a Cedeao, de onde foi suspenso, se não explodir antes, já não será o mesmo Mali que a abandonou.
Um dos desafios é que estas instituições – que incluem a União Africana – também se questionem, para ver como vão mudar as suas práticas para que estejam muito mais próximas das aspirações do povo e sejam mais capazes de antecipar as crises. É aqui que temos de colocar questões e propor soluções, para que o pan-africanismo possa também fornecer uma solução para os golpes de Estado.
Que papel podem as diásporas presentes no Ocidente, incluindo as da América Latina, desempenhar no processo geral de emancipação do continente africano?
As diásporas da América Latina têm a experiência de lutar contra ditaduras, contra regimes militares, para obter direitos sociais e culturais e reconhecimento cidadão. Estudar a história dos golpes de Estado na América do Sul pode ajudar a ler de forma diferente os golpes de Estado que ocorrem na África. Em segundo lugar, devemos encorajar os países da América do Sul a interessarem-se mais por África, a avançarem para resoluções de conflitos no quadro das relações Sul-Sul, que nos permitam deixar de lado as potências imperiais, sejam elas França, Rússia, Estados Unidos, China ou Reino Unido. Países como a Venezuela, o Brasil, a Colômbia ou Cuba poderiam desempenhar um papel em virtude das suas populações afrodescendentes.
Quanto às diásporas que vivem nos países ocidentais, a prioridade é informar-se sobre a situação nos países africanos afetados pelas crises atuais. Criar fundos de solidariedade em benefício das suas populações. Especialmente nas áreas da educação, cultura e saúde, setores devastados desde os programas de ajustamento estrutural dos anos 80 e 90. Tentando influenciar a política francesa nas suas declarações em relação aos países africanos. A diplomacia francesa permite-se palavras e posições que não se permitiriam em relação a outros países do mundo. Não ouvi a ministra de Relações Exteriores, Catherine Colonna, falar da junta birmanesa nos termos que faz com os regimes africanos. Existe uma espécie de racismo explícito na classe política francesa, na sociedade francesa, quando se trata de falar de África. Existe um fosso entre a paixão desta classe política em falar de África como se este continente lhe pertencesse e, ao mesmo tempo, o racismo contra os imigrantes, os afrodescendentes que estão em solo francês e que, muitas vezes, são franceses. São posições esquizofrênicas que permitem que figuras como [a referência de extrema direita] Éric Zemmour, ou mesmo Emmanuel Macron, manipulem a ignorância da sociedade francesa sobre a história colonial, sobre a história da África e até sobre a história de França no que se refere para a africanidade. Mas, ao mesmo tempo, a França e, em menor medida, a Bélgica ou o Canadá, são países onde os festivais culturais homenageiam África com escritores, músicos, criações em que a diáspora desempenha um papel fundamental.
Finalmente, o último elemento reside na dimensão colonial da França em relação às Antilhas, neste caso Martinica e Guadalupe, e mais tarde Guiana Francesa, Reunião e Kanaky [nome dado à Nova Caledônia pelos independentistas kanak]. A França continua a ser um império que não quer perecer. A Françafrique pode desaparecer, mas não quer. A nossa tarefa, como intelectuais e ativistas, é definir claramente a Françafrique e identificar os aspectos vitais deste sistema neocolonial para que possamos pôr fim à lógica que o mantém vivo.


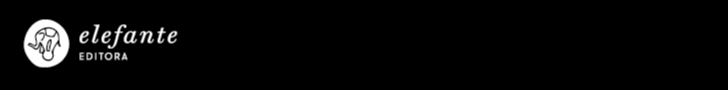


 325
325