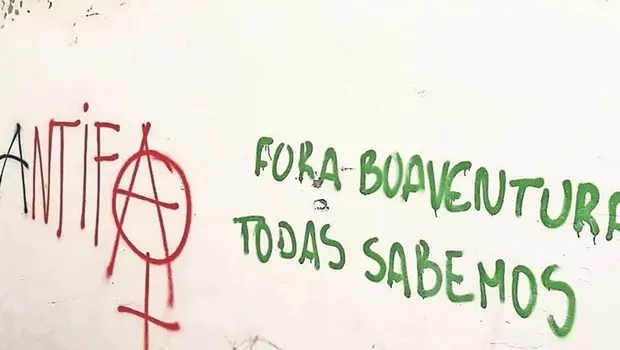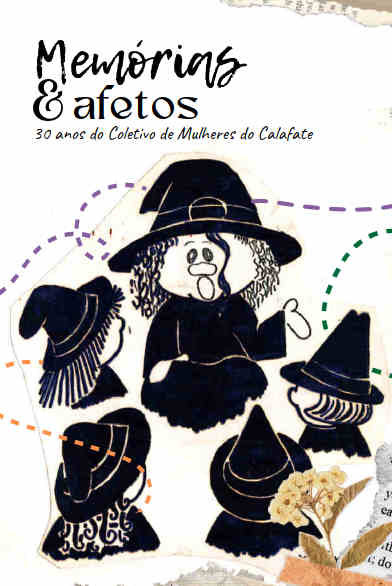Existem relatos históricos que demonstram que as mulheres palestinas foram as primeiras a se levantar contra os assentamentos sionistas ainda no fim do século XIX

Não há como lutar pela libertação das mulheres sem garantir a libertação das mulheres palestinas
Existem relatos históricos que demonstram que as mulheres palestinas foram as primeiras a se levantar contra os assentamentos sionistas ainda no fim do século XIX, na fase de colonização pelo mandato britânico e quando ocorreram as primeiras ondas migratórias com finalidades coloniais pelos sionistas.
As mulheres palestinas a partir de 1920 formaram vários comitês populares com o objetivo de articular protestos, ações de desobediência civil, bem como garantir auxílio aos feridos nas manifestações anti coloniais. Nesse período, já existiam organizações de mulheres, como a brigada de mulheres Zahrat al-Uqhawan (flores de crisântemo), que surgiu em 1933 na cidade de Yafa, pelas duas irmãs Moheeba e Arabiya Khursheed e tornou-se uma brigada de resistência para lutar contra as forças paramilitares sionistas após Moheeba testemunhar um atirador do mandato britânico disparar contra a cabeça de um menino palestino enquanto estava nos braços de sua mãe.
Zahrat al-Uqhawan lutou contra as forças paramilitares sionistas até a queda de Yafa em 1948, durante a Nakba, quando parte da população palestina da cidade foi etnicamente limpa, incluindo Moheeba, que viveu o resto de sua vida como refugiada na Jordânia e nunca pode retornar a sua terra.
Em 1921, Emília As-Sakakini e Zalikha As-Shihabi criaram a primeira União de Mulheres Árabes-Palestinas que organizou protestos contra o mandato britânico, a colonização sionista e a Declaração de Balfour, em que a Inglaterra garantia a constituição de um lar judeu em terras palestinas.
Durante a revolta de 1936-1939, as mulheres também se destacaram. Em 4 de maio, 600 estudantes organizaram uma conferência em Jerusalém e protagonizaram uma greve que durou 6 meses. Fatma Khaskiyyeh Abu Dayyeh liderou um grupo de 100 revolucionários palestinos contra o mandato britânico e a colonização sionista conforme relato que consta no livro de Ghassan Kanafani "A revolta de 1936-1939 na Palestina", ela comandou o local de armazenagem das armas dos revolucionários.
Após a Nakba e a ocupação militar ilegal de 78% do território palestino pelos sionistas também temos vários exemplos de mulheres na resistência, como Hayat Al-Balbisi, uma professora em Deir Yassin, que estava em Jerusalém no dia do massacre, mas ao receber a notícia do massacre em curso de sua cidade natal correu para ajudar, como funcionária da Cruz Vermelha, as vítimas palestinas e refugiou 15 meninos e meninas na sua escola, transformando o local em um centro de resgate. Ao colocar a Cruz Vermelha na porta da escola julgou que os soldados israelenses respeitariam as leis humanitárias e não atacariam um centro da Cruz Vermelha. No entanto, Hayat foi morta por um soldado sionista enquanto socorria um palestino ferido no centro.
Outras 55 crianças sobreviventes do massacre de Deir Yassin foram exibidas como troféus de guerra nas aldeias vizinhas pelo exército de ocupação e abandonadas na Cidade Velha. Foram então resgatadas por Hind Al-Hussieni que as levou para sua casa e batizou seu lar de Casa das Crianças Árabes e dedicou sua vida a cuidar dos órfãos de Deir Yassin e outras crianças palestinas.
As mulheres palestinas resistem de diversas formas como o exemplo de Leila Khaled, membro da Frente Popular pela Libertação da Palestina, que foi a primeira mulher a sequestrar um avião em 1969 e repetiu esse feito no ano seguinte. Também com poesia como Fadwa Tuqan, que segundo palavras do ministro da Defesa israelense em 1967, Moshe Dayan: “Cada um dos seus poemas faz dez guerrilheiros.”
Fadwa nasceu em Nablus em 1917 e escreveu: "Basta-me morrer em sua terra e ser nela enterrada debaixo dela me dissolvendo e acabando e ressuscitar na superfície, como grama, ressuscitar como uma flor com a qual a palma da mão duma criança da minha pátria irá brincar, basta-me permanecer no regaço da minha pátria. Terra, Grama, Flor." Uma combatente da literatura de resistência Palestina. Também durante as duas intifadas as mulheres estavam presentes ativamente de 1987 a 1993 e de 2000 a 2004.
Agora em Gaza, em que 65% da população é composta por mulheres e crianças, que em períodos de bombardeios anteriores intensos, foram acusadas de serem terroristas que usavam seus filhos como escudos, também as mulheres e as crianças são alvos dos mísseis da ofensiva israelense contra a população civil. O bloqueio desumano da ocupação sionista impede a entrada de alimentos, remédios, água e insumos básicos e deixa 84 mil mulheres grávidas em risco e a passagem de Rafah, única em que poderia entrar ajuda humanitária em Gaza, segue sendo bombardeada rotineiramente. Demonstrando mais uma vez, que a ocupação sionista israelense não respeita leis internacionais, as resoluções da ONU ou as leis humanitárias.
Como vimos recentemente, após o ultimato e ameaça do primeiro ministro israelense Netanyahu para que os mais de 1 milhão e 200 mil palestinos e palestinas do norte se retirassem para a parte sul de Gaza, e comboios de palestinos em fuga para o sul foram deliberadamente bombardeados pelas forças sionistas, o que aparece em vídeos compartilhados nas redes sociais. Vários palestinos foram mortos assim, majoritariamente mulheres e crianças, algumas parecendo ter no máximo de dois a cinco anos.
Também é notável o descumprimento das leis e convenções internacionais nos 40 bombardeios a hospitais, conforme levantamento da OMS, executados pelos israelenses, hospitais que encontram-se em colapso pelo bloqueio e corte de energia elétrica e pelos mísseis que caem a cada dois minutos sobre Gaza e fazem com que os hospitais estejam superlotados, com feridos dispostos no chão dos corredores, enquanto mais e mais feridos não param de chegar.
A limpeza étnica, os massacres, o apartheid também são patriarcais, coloniais e crimes. As mulheres palestinas continuam resistindo de todas as formas contra a ocupação por diversas décadas. Não somente em Gaza, em condições desumanas com 96% das águas contaminadas por conta do bloqueio imposto e ataques israelenses, como na Cisjordânia em que vivem sobre violento apartheid legalizado, mas também onde chamam de Israel e estão submetidas a 60 leis racistas.
Desde 1967 passaram pelos cárceres israelenses mais de 10 mil mulheres. Mulheres também são presas em detenções administrativas e sem acusação ou julgamento. Passam por torturas e maus tratos sistemáticos por exercerem resistência a ocupação de várias formas escritos, poesias, por arremessar pedras contra tanques, participar de protestos e por recusarem deixar sua terra. Pela defesa de sua identidade palestina, por manterem vivas as memórias do seu povo e passá-las adiante, denunciando a limpeza étnica e a colonização.
Também na Cisjordânia jornalistas palestinas são espancadas e mortas pelo exército israelense, agora nesse momento, e nos anos anteriores, como ocorreu com a Shireen Abu Akleh, a serviço da Al Jazeera, no dia 11 de maio de 2022, que foi alvejada no rosto pelas forças israelenses, enquanto cobria uma incursão militar no campo de refugiados de Jenin (cidade localizada ao norte da Cisjordânia) e demolições em massa de estruturas palestinas.
Que a luta contra a colonização e a memória preservada pelas mulheres palestinas sirvam de inspiração às feministas do mundo. Não há como lutar pela libertação de todas as mulheres sem garantir a libertação das mulheres palestinas. A luta feminista tem que ser antipatriarcal e anticolonial. A resistência das mulheres palestinas contra a ocupação militar ilegal não pode ser rotulada de "terrorista".
Sigamos o chamado dessas lutadoras palestinas e nos juntemos na exigência do respeito a todas as resoluções da ONU, incluindo a que garante o direito de retorno de todos refugiados palestinos espalhados pelo mundo. Boicotemos produtos de origem israelenses. Cobremos o fim de todos os acordos bilaterais firmados entre governo brasileiro e Israel e que os governos imponham sanções à Israel por todos os crimes que vêm sendo cometidos por mais de 75 anos e exijamos o fim imediato dos bombardeios e do apartheid contra a população civil palestina.
* Claudia dos Santos, da Frente Gaúcha de Solidariedade ao Povo Palestino
Edição: Katia Marko
Sou judia e sou contra todo tipo de genocídio

O maior conflito é os dois povos reclamarem as mesmas terras, só para si
Desde aquele terrível atentado de Hamas, que no início era um conflito, hoje a guerra não sai das nossas cabeças.
Não sou de falar por outras pessoas, mas vejo como o cruento massacre que o povo palestino está vivendo na Faixa de Gaza aparece o tempo todo nas redes sociais e, agora também, na mídia.
Não cansarei de perguntar como é possível, ainda não faz nem 100 anos que pessoas das nossas famílias eram exterminadas em Auschwitz e outros campos de concentração. E hoje, não só o governo de ultradireita massacra toda uma população, como muita gente do seu país e até do Brasil e do mundo, o apoiam. Essa não é a humanidade com a que eu um dia sonhei.
Não defendo o Hamas. Jamais faria isso. O deles, foi um ataque de proporções inumanas. Mas a maioria da população da Faixa de Gaza não faz parte deles. Menos ainda as crianças.
Por que não libertam as/os reféns?! Que carta, que manga implica ter essas mais de 200 pessoas em cativeiro, enquanto mais de 8.000 já morreram?
Minha cabeça procura entender o conflito, há anos.

O Estado de Israel amplia suas fronteiras ocupando territórios que pertencem ao povo palestino / Reprodução
Antigamente toda essa terra era chamada de Palestina e lá viviam as pessoas do povo árabe. Aos poucos, o povo judeu foi se aproximando, e se assentando e ficando. Quer dizer, é uma mesma terra que dois povos desejam para si.
O problema se acirra quando em 1948 se constitui, ali, o Estado de Israel. Lembremos que durante a II Guerra Mundial, Alemanha tinha assassinado 10 milhões de pessoas, das quais 6 milhões eram judias. Por isso, o povo hebreu estava procurando um refúgio e essa região já estava no Antigo Testamento como a Terra Prometida.
Com o tempo, o Estado de Israel amplia suas fronteiras ocupando territórios que pertencem ao povo palestino, sendo as pessoas empurradas para uma pequena Faixa de Gaza de 41 quilômetros na sua extensão e 12 na largura, chegando a mais de 20.000 habitantes por quilômetro quadrado.
Demorei anos a entender o que acabei de escrever, pois nunca tinha sido me narrado de uma forma simples. Porque não é. Ao contrário, é extremamente complexo e com muitas conotações políticas, o que subjetiva muito a visão.
O maior conflito é os dois povos reclamarem as mesmas terras, só para si.
E se não existissem as fronteiras?
E se os Estados Unidos não produzissem armas?
E se toda a humanidade lutasse contra o capitalismo e a propriedade privada, haveria tal conflito?
Em 1989 participei de um workshop de fotojornalismo, ainda morando em Buenos Aires. Eu era fotógrafa e me preparei durante meses para fazer parte desse curso que tanto prometia. Consegui. Foram 4 dias junto a maiores fotojornalistas do mundo. No ano seguinte eu fui morar em Israel, não por sionista, mas fugindo de mais uma crise econômica da Argentina. Um dia, nas ruas, encontrei por acaso com Abbas, grande fotógrafo iraniano e um dos profissionais que tinha dado o curso junto com Sebastião Salgado, Susan Meiselas e outrxs grandes mestres. Eu estava com outra fotógrafa, ela de Luxemburgo, quando ele olhou para nós e perguntou, “mas vocês não querem a paz?”
Fico até constrangida de ter demorado tantos anos a entender sua pergunta.
Ao início dos anos de 1990 eu não era tão politizada como agora, mas percebia certas coisas que eu não gostava, tanto que não fiquei morando na Terra Prometida e voltei a mi Buenos Aires kerida, cidade na qual nasci pela primeira vez (antes de voltar a nascer, por segunda vez, em Porto Alegre).
Voltando agora ao atentado de 7 de outubro, eu só o vejo como uma consequência quase matemática de quem enxerga seu povo sendo empurrado a uma pequena faixa de terra, a um cárcere a céu aberto. Foi terrível e muito violento, foram raivas escapadas de uma panela de pressão. Vendo assim, surpreende?
Nesses dias conversei com uma (ex?) amiga israelita, da época em que morei lá. Ela insiste em que eu defendo o Hamas e me diz que eu sou uma judia desprezível. Eu não digo nada a ela, mas a comparo com Bush, lembrando quando dizia “estão conosco ou contra nós”.
Acho que sou uma pessoa não binária em todas as dimensões da vida. Não podemos reduzir um conflito tão grande ao estar a favor ou contra, por isso, faz dias que não paro de pensar e estou aqui escrevendo. Tentando me explicar ao tempo que converso com vocês.
Mas podemos olhar para o conflito árabe – israelita sem olhar para nós, aqui, do continente americano, antes chamado de Abya Yala; e Brasil, antes nomeado como Pindorama, em um momento que ainda se discute a demarcação das terras indígenas? Não é acaso o mesmo conflito em diferentes proporções? Chega um grupo de pessoas se impondo a outro grupo que já vivia ali e crava sua bandeira.
E agora, meu povo?
Imagino que, muito provavelmente, todas as pessoas que estejam lendo concordarão com a demarcação das terras, mas os povos originários de Abya Yala têm perdido muitos direitos e terras e têm sofrido muitas matanças nesses 500 anos.
Termino este texto com uma característica judia, a de gerar mais interrogantes do que oferecer respostas.
Ato global pela Palestina, sábado, 4 de novembro, às 15 horas no Largo Glênio Peres – Porto Alegre/RS.
* mariam pessah : ARTivista feminista, escritora e poeta, autora de Meu último poema, 2023; Em breve tudo se desacomodará, 2022; organizadora do Sarau das minas/Porto Alegre desde 2017 e coordenadora da Oficina de escrita e escuta feminiSta.
** Este é um artigo de opinião. A visão dx autorx não necessariamente expressa a linha editorial do jornal Brasil de Fato.
Edição: Katia Marko



 618
618