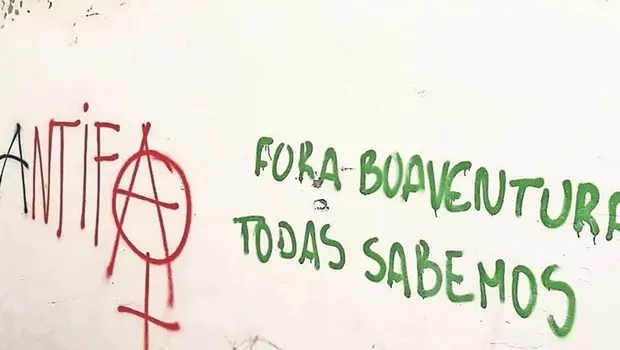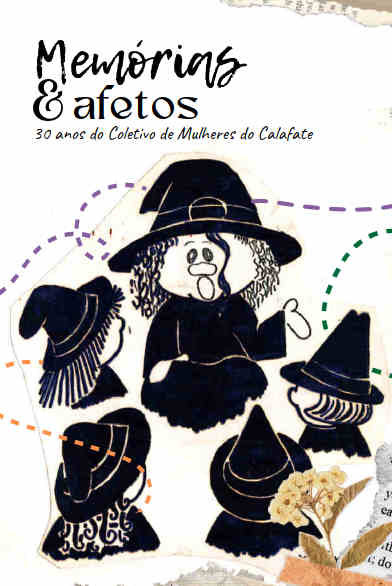Primeiro de uma série de textos escritos a partir do encontro entre uma escutadora e uma sobrevivente de feminicídio

Este é o primeiro de uma série de textos escritos a partir do encontro entre uma escutadora e uma sobrevivente de feminicídio, cujos vínculos se deram a partir do programa de extensão Clínica Feminista na Perspectiva da Interseccionalidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Há um ano, mais precisamente em 2 de maio de 2021, fui atacada a golpes de facão pelo homem com quem vivi por 18 anos. Aguardava o ônibus na parada após uma jornada longa de trabalho como técnica de enfermagem, quando ele me abordou simulando um assalto. Seu objetivo era me matar para ficar com o seguro de vida que fiz em nome dos nossos três filhos, os quais sustento sozinha e cujos nomes repeti inúmeras vezes, como um mantra, para manter-me consciente e ter forças enquanto aguardava o resgate, ensanguentada, no chão da calçada.
Meu corpo me lembra todos os dias, através das cicatrizes e das intensas dores das sequelas. Tenho flashes do ataque, sinto medos profundos e irracionais a cada data que marca os meses passados do atentado. Ainda assisto as filmagens do crime, sinto essa necessidade, pois parece que uma parte de mim custa a acreditar. Não quero esquecer, quero que a dor suavize, quero meu direito de sentir e dar dignidade a essa história, por isso hoje eu falo: quando uma mulher se cala, muitas morrem. Não quero mais ser silenciada.
Leia também: Uma mulher é morta a cada nove horas durante a pandemia no Brasil
Preciso dizer das violências cotidianas e sistemáticas que uma sobrevivente como eu sofre: da negligência do Estado à falta de empatia das pessoas. Chego a desconhecer a humanidade quando escuto perguntas como “por que ele fez isso?” ou “qual foi o motivo?”, olhares de julgamento que tentam justificar o injustificável. Parece que as pessoas não pensam para falar. Falam sem qualquer propriedade.
Estou perdendo os movimentos das mãos porque não há fisioterapeutas suficientes no SUS, não há linha de cuidado para vítimas como eu e sequer o seguro, que quase me custou a vida, foi pago integralmente. O tratamento a cada perícia do INSS é humilhante, e meus filhos não têm direito ao auxílio-reclusão, pois a renda do meu ex-marido, que se negava a pagar pensão, excedia o teto para a concessão do benefício. Esse dinheiro faz muita falta, temos sobrevivido com doações e ajuda de alimentos. Para que meus filhos não passassem fome, algumas vezes precisei fazer faxinas, mas, com as dores cada vez mais crônicas, trabalhar é uma possibilidade que se distancia. Estou me tornando uma pessoa com deficiência física após sobreviver a um ataque feminicida. Tive que reunir todos os meus recursos para mudar de estado, recomeçar a vida longe do lugar que me causa tantos gatilhos e que chegam a me impedir de andar pela rua sem ter uma crise de pânico.
:: A criminalização do aborto e as violências do patriarcado ::
Aceitei o convite para falar em uma rádio no dia que completou um ano da tragédia que marcou meu corpo e minha alma, e quão revoltante foi dar-me conta que estava sendo usada pelo apresentador do programa, um extremista bolsonarista que, após me interromper e anular minha fala inúmeras vezes, sugeriu que a solução era fomentar o acesso a armas de fogo para as mulheres. Um ano após ser violentada fisicamente, eu era violentada moral e simbolicamente. Me lembrou o tratamento recebido na delegacia da mulher quando, após muitas ofensas verbais, apanhei dele pela primeira vez. Não tive forças para pedir a renovação da medida protetiva, hoje me arrependo. Concluo que o senso comum é misógino e feminicida, por isso o Brasil só conta cadáveres.
Contra a covardia da violência, a pedagogia da realidade: enquanto mulheres das mais distintas realidades sociais estão sob o cárcere do medo, homens nos matam movidos pela certeza da impunidade. Levam os filhos para a escola com os corpos assassinados das mães no porta-malas. Ao se defenderem, quantas mulheres como eu tiveram suas mãos decepadas?
Sair de um ciclo de violência não é algo que fazemos sozinhas. Às vezes, mesmo com recursos financeiros, o medo da morte fala mais alto e nos paralisa. Precisamos ser ouvidas de outra maneira, sentir que temos credibilidade e que as instituições funcionem. Só assim, das minhas cicatrizes nascerão asas.
*Thaís Hipólito, em diálogo com Lara Werner.
**Este é um artigo de opinião. A visão da autora não necessariamente expressa a linha editorial do jornal Brasil de Fato.
***Leia mais textos como este na coluna Diálogos Feministas, do Brasil de Fato RS.
Edição: Katia Marko



 917
917