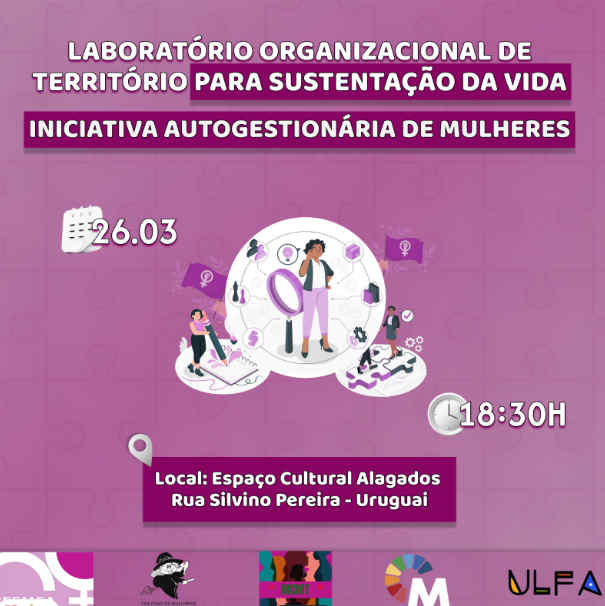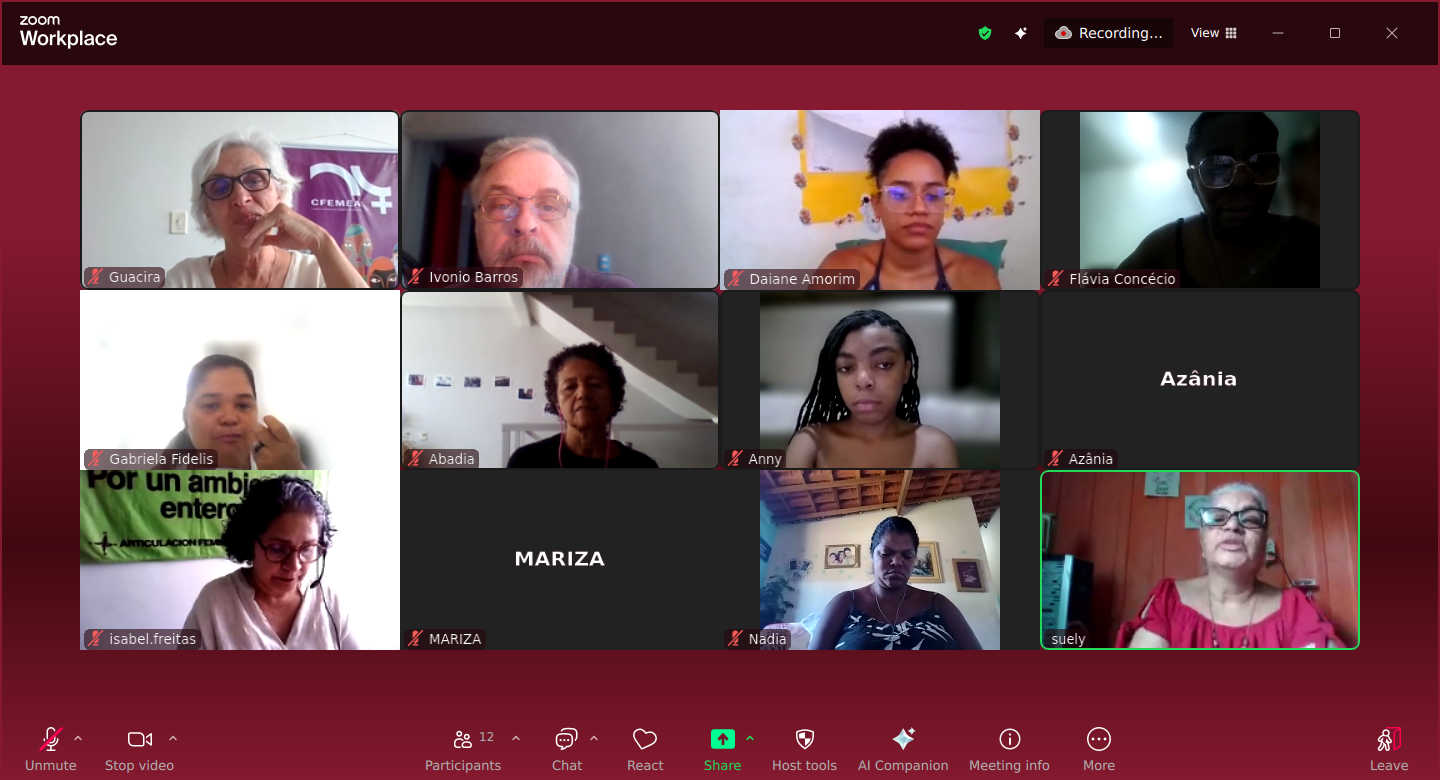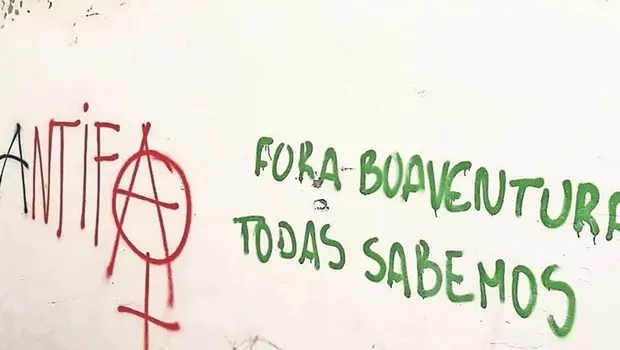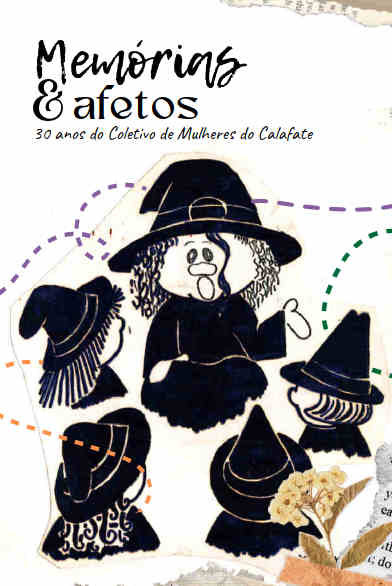Na efervescente Alemanha dos anos 1930, Irmgard Keun retratou o desejo de liberdade sexual e independência econômica da mulher, além do aborto e do abuso. Queimados pelo III Reich, seus livros são editados agora como uma voz ainda contemporânea
Publicado 01/02/2024 às 14:09
 Foto: Irmgard Keun (Picture-alliance/DPA).
Foto: Irmgard Keun (Picture-alliance/DPA).
Por Bruna Della Torre, no Blog da Boitempo
“Gostaria de discutir uma categoria sociológica e literária que não existia até agora, mas que considero relevante: a saber, ‘consciência de pária’. Esta categoria é relevante para a descrição de uma certa continuidade na consciência das mulheres, particularmente das mulheres que se expressaram por escrito sobre a sua situação, ou seja, as escritoras. […] A consciência de pária é a consciência do heterogêneo e, devido ao seu ponto de vista externo, é o espelho por excelência da sociedade.”
Elisabeth Lenk, “Indiscrições da besta literária: consciência de pária das escritoras desde o Romantismo”
Para variar, uma escritora talentosa e exitosa torna-se desconhecida: seus romances saem de circulação e seu nome não aparece em quase nenhum livro sobre os artistas da República de Weimar. Considerada frívola pelos seus contemporâneos comunistas, a obra de Irmgard Keun foi redescoberta na década de 1970 pelo movimento feminista e hoje é cada vez mais retomada devido a esse impulso. Antes matéria de especialista, está sendo reeditada e traduzida para o inglês e aparece cada vez mais adaptada aos palcos alemães. Em 2021, foi objeto de um ciclo de debates no fórum de literatura da Brecht-Haus; em 2023, seu romance Depois da Meia-noite (1937) foi encenado em Frankfurt e, em fevereiro deste ano, chega à tribuna do Berliner Ensemble, onde sua obra Gilgi, uma de nós (1931) será lida pela atriz Katharina Thalbach, aluna de Helene Weigel e consagrada por seu papel em Mãe Coragem. Finalmente alcançada por nossa época, a obra de Keun é um exemplo de que, às vezes, a roda da história precisa girar para trás para avançar na política e na literatura.
Keun nasceu em 1905, em Berlim, numa família de classe média, e morreu em 1982, em Colônia, cidade onde cresceu. Estudou atuação e trabalhou como atriz no teatro Thalia, em Hamburgo, mas tornou-se escritora antes dos 30 anos. Seus romances Gilgi, uma de nós (1931) e A garota de seda artificial (1932) tornaram-se best-sellers na década de 1930 – o primeiro vendeu 50 mil exemplares no ano de lançamento e foi adaptado para o cinema em 1932 por Johannes Meyer, com Brigitte Helm (conhecida por seu papel de Maschinenmensch [pessoa-máquina] no filme Metrópolis, de Fritz Lang); o segundo foi traduzido para mais de dez línguas. A publicação de Gilgi lhe rendeu uma acusação de plágio. Keun teria copiado um romance de Robert Neumann, acusação apoiada pelo colega e amigo Kurt Tucholsky, da qual foi inocentada anos depois – afinal, como pode uma escritora tão jovem escrever um romance best-seller?

Após a ascensão de Hitler, sua obra foi para a fogueira, proibida pelos nazistas por seu conteúdo sexual e “anti-alemão”. Keun exilou-se na Bélgica e na Holanda e viajou para a Suíça e os Estados Unidos, mas voltou para a Alemanha com outra identidade após a publicação, no jornal britânico Daily Telegraph, da notícia falsa de que havia cometido suicídio. Keun passou por muitas dificuldades financeiras, sofreu de alcoolismo e viveu alguns anos em hospitais psiquiátricos. Mesmo depois da guerra, quase ninguém se interessou por seus romances. Segundo sua filha, talvez grande parte da população alemã não tenha gostado de se ver ali descrita, especialmente os homens. A redescoberta tardia de sua obra e sua reedição pela editora Claassen lhe rendeu alguma estabilidade financeira. Até o fim de sua vida, escreveu diversos romances, contos, sátiras para o rádio, entre outros livros. Em 1960 e 1981, mais dois de seus livros apareceram no cinema: La grande vie (inspirado na Garota de seda artificial), dirigido por Julien Duvivier e Nach Mitternacht (inspirado no romance de mesmo nome), dirigido por Wolf Gremm. Apesar disso, a autora ainda é pouco debatida. O fascismo fez bem seu serviço e Keun tornou-se uma escritora considerada menor ou marginal. Ao ser perguntada sobre a felicidade de sua mãe, a filha de Keun afirma que a autora teria dito que “o nazismo roubou os melhores anos de uma mulher”.
Seus romances são exemplares inequívocos da vertente de esquerda da “Nova Objetividade”. Além de a autora ter convivido com esse grupo, seus livros acompanham as grandes linhas do movimento: aproximam-se do romance reportagem, cujo realismo (naturalista?) é hostil ao psicologismo e ao individualismo burguês, e da investigação literária do cotidiano de homens e mulheres infames, do mais baixo proletariado até suas margens, inundadas por prostitutas, ladras e desempregadas. Nesse sentido, os livros de Keun deveriam estar presentes junto aos debates em torno das obras de Alfred Döblin, Erich Kästner, Hans Fallada, Bertolt Brecht, entre outros. Autores que figuraram o andar de baixo da República de Weimar na antessala do fascismo e estão sendo retomados como nossos contemporâneos – conforme defendi nessa coluna anteriormente a respeito de Brecht e da releitura cinematográfica de Fabian de Erich Kästner (e Berlin Alexanderplatz, de Alfred Döblin). Mas os romances de Keun não interessam apenas por isso.
Gilgi apresenta algo a mais, que a faz contemporânea a nós e está relacionado ao que Elisabeth Lenk chamou de “consciência de pária”, uma espécie de consciência desenvolvida por escritoras mulheres que, independente de seu talento ou sucesso na Alemanha, não obtiveram um lugar no mundo das letras. Ou seja, outsiders que sequer assumem uma posição definida na hierarquia social artística. Lenk retoma criticamente o conceito de “pária” de Hannah Arendt em sua biografia sobre Rahel Varnhagen, mas retraça a sua origem até Flora Tristan e seu O Testamento da pária (1846) e refere esse conceito à literatura, buscando no socialismo utópico – em geral, sempre muito mais receptivo ao feminismo – um conceito sociológico e literário para compreender o que foi feito da literatura escrita por mulheres. Pária é, nesse sentido, aquilo que sobra, o heterogêneo, uma espécie de lumpen que não se encaixa na pureza dos conceitos de classe como burguesia e proletariado e que por isso foi considerado menor tanto na política, quanto na teoria e na literatura – essa ideia pode ser referida tanto aos personagens de Keun, quanto à sua trajetória de escritora exilada perambulando com um nome falso em seu próprio país, quase esquecida pelo campo literário após o fim da Segunda Guerra. Recorrendo a uma proposta feminista (de inspiração lukácsiana), Lenk defende que, por ser excluída e ao mesmo tempo partilhar dos valores da sociedade que a despreza, a pária possui uma visão ainda mais ampla do mundo social do que o proletariado stricto sensu que ainda operaria na homogeneidade conferida pela classe. Mais do que restos, o heterogêneo social constituído pelas prostitutas, ladras, presidiárias, desempregadas, mães e mulheres permitiria o surgimento de uma consciência ampliada, uma visão privilegiada das contradições do sistema capitalista, cujo “resto” é sua parte constitutiva. A consciência de pária está expressa com maestria em seu romance Gilgi, que figura literariamente uma série de situações que posteriormente seriam teorizadas pelos movimentos feministas.
Gilgi é a história da personagem de mesmo apelido, uma datilógrafa de vinte anos advinda de uma família de classe média baixa (que ela descobre no início do romance ser sua família adotiva) e que estuda e traduz espanhol, inglês e francês nas horas vagas. Gilgi é ambiciosa, mas afirma ser mediana, trabalhadora e esforçada (demonstrando como as mulheres, especialmente de seu estrato, não se podem dar ao luxo de desejar-se inteligentes). Ela sabe o quer, exercita-se todos os dias, morre de medo de dívidas, paga em dia as contas do apartamento que aluga para trabalhar, trata seus amores como um passatempo, economiza, faz bicos aqui e ali para poder fazer uma viagem aos países cuja língua está apreendendo e deseja tornar-se uma mulher independente: “ela não está satisfeita, mas está contente. Está ganhando dinheiro”.
Keun figura o cenário urbano da cidade de Colônia, com ênfase na descrição da vida dos trabalhadores de escritório e do baixo proletariado. De um lado, a cidade parece uma engrenagem, que deve funcionar perfeitamente a partir do movimento concatenado de suas partes. Esse é o momento da introdução do taylorismo na Alemanha, e essa metáfora da máquina como elemento que organiza a sociedade da maneira mais produtiva possível acompanha o cotidiano de Gilgi – ela conta quantos caracteres é capaz de digitar por hora e administra seu tempo de maneira contábil. Keun figura brilhantemente essa atmosfera da República de Weimar, em que o automatismo mecânico da indústria passa a ser problematizado pela literatura – basta pensar, por exemplo, nas obras de Ernst Jünger e de seus escritos sobre o “soldado-máquina” após a Primeira Guerra. Keun, assim como outros autores da Nova Objetividade, mostra, no entanto, que essa engrenagem e esse automatismo geram um resíduo, que acaba nos escritórios de “seguro-desemprego”, vagabundeia por cafés decadentes na cidade e faz rodar uma outra engrenagem urbana, a da marginalidade.
Gilgi reúne uma protagonista carismática e uma narrativa cheia de ironia e humor ácido, cujo tema principal gira em torno das expectativas da “nova mulher” que surge na República de Weimar. Um modelo que é um produto de três fenômenos concomitantes. Em primeiro lugar, a desintegração da autoridade econômica e política masculina produzida pela Primeira Guerra Mundial (Gilgi tem pouco respeito pelo pai, entedia-se com as histórias da guerra do veterano que a contrata como datilógrafa e tem horror à ideia de ser sustentada por um homem). Em segundo, um potencial emancipatório herdado da Revolução Russa e da Revolução Alemã derrotada (Gilgi acha que é seu direito poder fazer sexo antes do casamento, é a favor do aborto e tem ojeriza à família burguesa tradicional). Por fim, mas não menos importante, um modelo glamourizado da indústria cultural nascente, expresso no clichê cinematográfico da heroína alemã esportiva, de cabelos curtos, que fuma e tem vários/várias amantes, imortalizada, por exemplo, no filme A caixa de Pandora, de Georg Pabst. As músicas, roupas de pele da moda e maquiagens (“primeiro vem o pó de arroz e o perfume, depois a comida”), assim como os exercícios e a pressão para parecer magra fazem parte da vida de Gilgi – uma vaidade que não é só adequação à indústria cultural, mas uma forma de sobrevivência num mundo social no qual a aparência feminina é decisiva, inclusive de uma perspectiva econômica. Mas não se trata apenas de figurar essa nova mulher, senão de mostrar as possibilidades e impossibilidades de seu surgimento no contexto de ascensão do fascismo na Alemanha. Gilgi, nesse sentido, é também um protesto contra a reestruturação do patriarcado propagandeada e praticada pelo nacional-socialismo. A personagem, que pouco entende de política, não tolera o lema “Alemanha acima de tudo” e faz de sua vida um protesto contra o destino das mulheres que viria a se tornar uma política de estado na Alemanha fascista: KKK, Kinder, Küche, Kirche, [Crianças, Cozinha, Congregação/Igreja].
Seu romance é composto de um conjunto de cenas, num estilo fortemente inspirado pelo cinema – cenas que conjugam, em sua tensão, os motivos mais importantes da narrativa. Logo no início, deparamo-nos com um café da manhã desigual, distribuído de acordo com o gênero. Gilgi está sentada à mesa com seus pais adotivos: “Os três estão comendo pão com manteiga. Apenas o Sr. Kron (Novidades do carnaval, Liquidação) come um ovo. Esse ovo é mais que nutrição. É um símbolo. Uma concessão à superioridade masculina. A insígnia de ofício de um monarca, uma espécie de láurea do imperador”. Além do procedimento de inserção das manchetes de jornal ou rádio em meio à descrição (que pode ser visto como um procedimento modernista, mas igualmente como um hiper-realismo que visa captar não só as presenças visíveis, mas as audíveis de um ambiente), o trecho tematiza, assim como o romance como um todo, as diversas violências de gênero às quais as mulheres são submetidas em seu cotidiano como o fato, ainda considerado amplamente normal, de que os homens devem comer mais que as mulheres e que os pais de família merecem destaque na mesa. As passagens são precisas, mas não se trata de mera “denúncia” sob a forma de literatura. Com muita ironia, Gilgi navega essas situações, descritas brilhantemente no livro num período no qual as palavras “assédio”, “relacionamento abusivo” e “violência de gênero” diziam pouco ou nada. A figuração dos personagens masculinos e das situações que produzem é mordaz e rendem excelentes passagens. Como esta, na qual Gilgi sofre investidas “apaixonadas” de seu chefe.
Com medo de perder o emprego e sentindo um misto de lisonja e aborrecimento, vai com ele a um café:
O Sr. Reuter fuma seu primeiro cigarro. Está mostrando a Gilgi fotos de sua mulher e de seu filho, como homens casados fazem quando estão preparados, a não ser por uma leve pontada na consciência, para ser infiéis. […] Ele menciona por acaso que não pode ter conversas interessantes com sua esposa como as que tem com Gilgi. ‘Ohhh?’ Gilgi responde. ‘Sim’, diz o Sr. Reuter, tocando as costas da mão dela algumas vezes. ‘Quantos anos você tem, eu poderia ser seu pai, mocinha’. E espera um desmentido enérgico. Gilgi apenas sorri de maneira inocente, o que o Sr. Reuter interpreta a seu favor. Ele fuma seu quarto cigarro. De repente é tomado pela vontade de se sentir infeliz. Seu casamento é um total e completo fiasco, ele trabalha com amargura, autoironia e sem paixão […] sua mão desliza para o joelho de Gilgi, que a repele com gentileza. ‘Eu me sinto tão sozinho… você não poderia ser boazinha comigo, menina?’
Entre ter que ir para a cama com um homem que não deseja e o medo de perder seu emprego, Gilgi dá-se conta de que “o cara não está apaixonado por mim especificamente, ele só decidiu se apaixonar – em geral. Sua atração por mim é arbitrária” e, portanto, pode ser redirecionada. Gilgi pede, então, a uma amiga que lhe tire o fardo das mãos. Quando se encontram os três no restaurante de um hotel, Sr. Reuter, ao ver os homens ao seu redor repararem na beleza de Olga, amiga de Gilgi, “lembra-se” de que prefere as loiras e que não é uma boa ideia envolver-se com pessoas do trabalho.
Keun figura o quanto as mulheres estão submetidas a uma negociação sexual nos espaços relacionados ao trabalho e emprego, especialmente em tempos de crise. Ao ser entrevistada para um “bico” de datilógrafa, Gilgi é preferida a uma mulher mais velha e mais malvestida:
O fato de que ela levará sua própria máquina de escrever garantiu-lhe a vitória contra as outras concorrentes. Talvez porque flertou um pouco com ele também. Homens acima de cinquenta quase sempre gostam quando você os olha por baixo, com charme. Também é bom apelar aos seus instintos de proteção, substituir a sua autoconfiança sólida por uma fragilidade apelativa no momento certo. Você tem que entender tudo isso. Gilgi entende. O fato é que você depende dos empregadores e você não consegue a atenção deles sem alguns truques. Você não tem sucesso só por causa das suas habilidades ou só com truques, mas normalmente você tem sucesso se conjuga os dois.
Essa caricatura literária dos homens (segundo depoimento da filha de Keun, inspirada na grande capacidade de sua mãe de lidar com esse gênero ao ponto de uma vez convencer um burocrata estrangeiro a lhe fazer um passaporte falso) evidencia uma influência da cultura de massa e do jornalismo na literatura (vale lembrar que representantes importantes do movimento como Erich Kästner e Kurt Tucholsky trabalharam como jornalistas), mas em Gilgi, bem como em seus outros romances, torna-se um procedimento de composição e uma maneira de elaborar no romance as questões (que hoje chamaríamos) “feministas”. Conforme destaca Lenk, “a propensão para a caricatura, para o grotesco não é, portanto, distorção, mas retificação. E esta característica é encontrada em toda literatura que é mais do que uma representação artística da fachada social”.
Além dos chefes, de um amigo comunista agressivo que se ressente por Gilgi não querer ir para cama com ele e a interrompe o tempo todo com “lições de política”, há ainda Martin, por quem a protagonista se apaixona, deixa a casa dos pais, e que a desvia temporariamente de seus planos. Martin é a figura do intelectual sem obra, um boêmio, avesso ao trabalho e às responsabilidades, liberal e descontente com o curso da Alemanha, homem do mundo, cosmopolita, viajante e culto, que se alegra por Gilgi ter menos de 50 quilos, aborrece-se com o cheiro de gordura que fica nos cabelos e unhas dela quando ela cozinha o jantar para os dois, que “estaria muito, mas muito mais apaixonado pela pequena se ele pudesse dar a ela boas roupas, diamantes e peles delicadas” e que não admite que ela trabalhe tanto e pague as contas que ele mesmo atrasou. Para atender aos desejos de Martin, Gilgi abandona a escola de línguas, o trabalho e seus projetos – o amor oferece grande risco a seus planos. Grávida de Martin, Gilgi desespera-se e vai ao médico buscar um aborto e recebe como diagnóstico um conselho para se casar, ao que responde:
Eu não hesitaria nem por um segundo em gestar cinco crianças saudáveis como mãe solteira, se pudesse sustentá-las. Mas não posso. Não tenho dinheiro, o pai não tem dinheiro, enfim, vai custar menos me livrar prontamente do assunto. […] Não há nada mais imoral e não-higiênico e absurdo que fazer uma mulher ter uma criança que não consegue alimentar. E não há absolutamente nada mais imoral e absurdo que fazer uma mulher ter uma criança que não deseja.
Na República de Weimar, o aborto foi amplamente debatido e, em 1927, descriminalizado em caso de risco de vida à gestante. No início da década de 1930, já era alvo do nacional-socialismo, que em 1933 implantou uma lei que o proibia em qualquer caso e punia severamente as mulheres que o praticassem. Keun é uma das primeiras a figurar literariamente as questões em torno desse debate, que atravessa o romance: Gilgi descobre ao longo da narrativa ser ela própria o resultado de uma gravidez indesejada. Além disso, Keun aborda a questão também a partir da história de Hans e Hertha, amigos de adolescência de Gilgi que se casaram, tiveram dois filhos e vivem na miséria. Quando visita Hertha, esta confessa a Gilgi que se ressente do marido por causa da maternidade e que não consegue mais transar com ele por medo de engravidar:
Eu o odiei tanto quando percebi que o segundo bebê estava a caminho. Às vezes, eu o odiei tanto quando vi no espelho que minha beleza adorada fora completamente embora – pele pálida e acinzentada, uma boca flácida, olhos enuviados. Nunca vou me esquecer, quando chegou o segundo bebê […] as contrações começaram muito cedo, elas estavam partindo meu corpo em dois – eu gritava, gritava, gritava – e Hans se divertindo com alguns amigos nos fundos de um bar […] tudo que eu podia pensar era seu porco, seu porco, é sua culpa, sua culpa que estou jogada aqui assim […] e toda noite, exatamente toda noite assim que escurece, o nojo e medo tomam conta de mim […] eu sei que um homem precisa disso, mas para mim é tão revoltante, é tanto sacrifício. Então eu o beijo e coloco minhas mãos em volta do pescoço dele de maneira mais forte para que ele não repare como ele me enoja nesse momento e como isso me faz odiá-lo.
Por meio da personagem de Hertha, Keun corajosamente explora os efeitos na subjetividade feminina da inseparabilidade entre sexo e maternidade quando o aborto não é permitido e há poucas opções de contracepção – isto é, figura a economia política da sexualidade que entrelaça produção e reprodução e compromete a fruição sexual plena das mulheres.
Hertha é encontrada morta junto aos dois filhos e grávida de mais um, num quarto miserável, pois o marido endividado e com medo de ir preso, liga o gás durante a noite e mata a família toda. Gilgi tenta ajudá-lo com suas dívidas (até mesmo recorre à mãe biológica), mas chega tarde demais. Com isso, toma a decisão de deixar Martin e partir para criar sozinha seu bebê, em Berlim – a cidade que vai devorar os sonhos de muitas mulheres. Lugar onde começa seu outro grande romance A garota de seda artificial, cujo eixo é o show business e o destino das mulheres que querem fazer a vida nele – um livro para “berlinógogos”, já que o retrato da metrópole é um de seus pontos altos. O romance trata, entre outras coisas, das negociações sexuais ainda mais impositivas para as mulheres que trabalham no cinema – algo que só veio a público de maneira mais destacada e coletiva com o movimento Me Too, já no século XXI.
Apontado por parte da fortuna crítica como “um romance de formação feminino” – um clichê que hoje parece se aplicar a qualquer história individual – Gilgi é uma espécie, talvez, de educação sentimental feminista. Nossa personagem (afinal, ela é uma de nós) renuncia a seu romance com Martin não por falta de coragem, mas para evitar o destino de Hertha e outras mulheres. Entre razão e sensibilidade, escolhe a primeira (contrariando também os clichês dos romances ditos femininos). O final da história é aberto e deixa para nós a tarefa de decidir o que será de Gilgi na luta pelo controle de seu corpo e sua vida – naquele momento, o mercado de trabalho ainda aparecia como uma espécie de saída para as mulheres que desejam emancipação, algo que o feminismo da década de 1970 desmentiu, a duras penas. Keun, nesse sentido, revela que o romance é uma forma privilegiada para explorar não só a apatia e impotência de seus personagens burgueses, mas para dar forma aos sofrimentos infligidos às mulheres proletárias em sua luta por autonomia.
Para terminar, vale ressaltar que uma pária tem, segundo Lenk, duas opções: resignar-se e aderir aos valores da sociedade que a rebaixa, bem como submeter-se a rituais de purificação, ou criar uma consciência crítica da sociedade que a produziu e que transformou as mulheres desejantes (de escrita, de literatura, de carreira, de independência, de igualdade, de sexo, de amor) em párias. Irmgard Keun não se resignou. Sua literatura mostra que, em matéria de romance e de gênero, Weimar é logo ali.
Referências bibliográficas
KEUN, Irmgard. Gilgi – eine von uns. Berlin: Ullstein Taschenbuch, 2018.
LENK, Elisabeth. “Indiscretions of the Literary Beast: Pariah Consciousness of Women Writers since Romanticism”. New German Critique, No. 27, Women Writers and Critics (Autumn, 1982), p. 101-114.


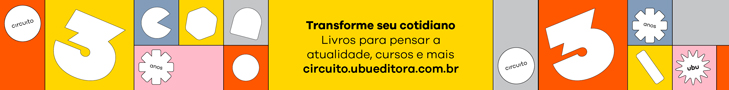


 508
508