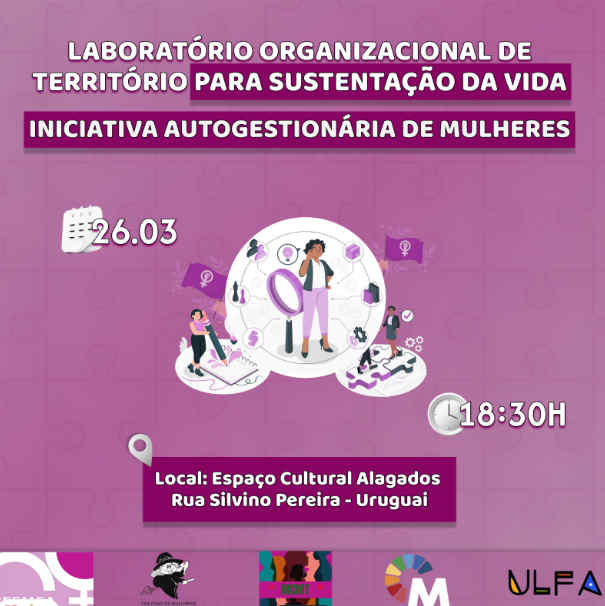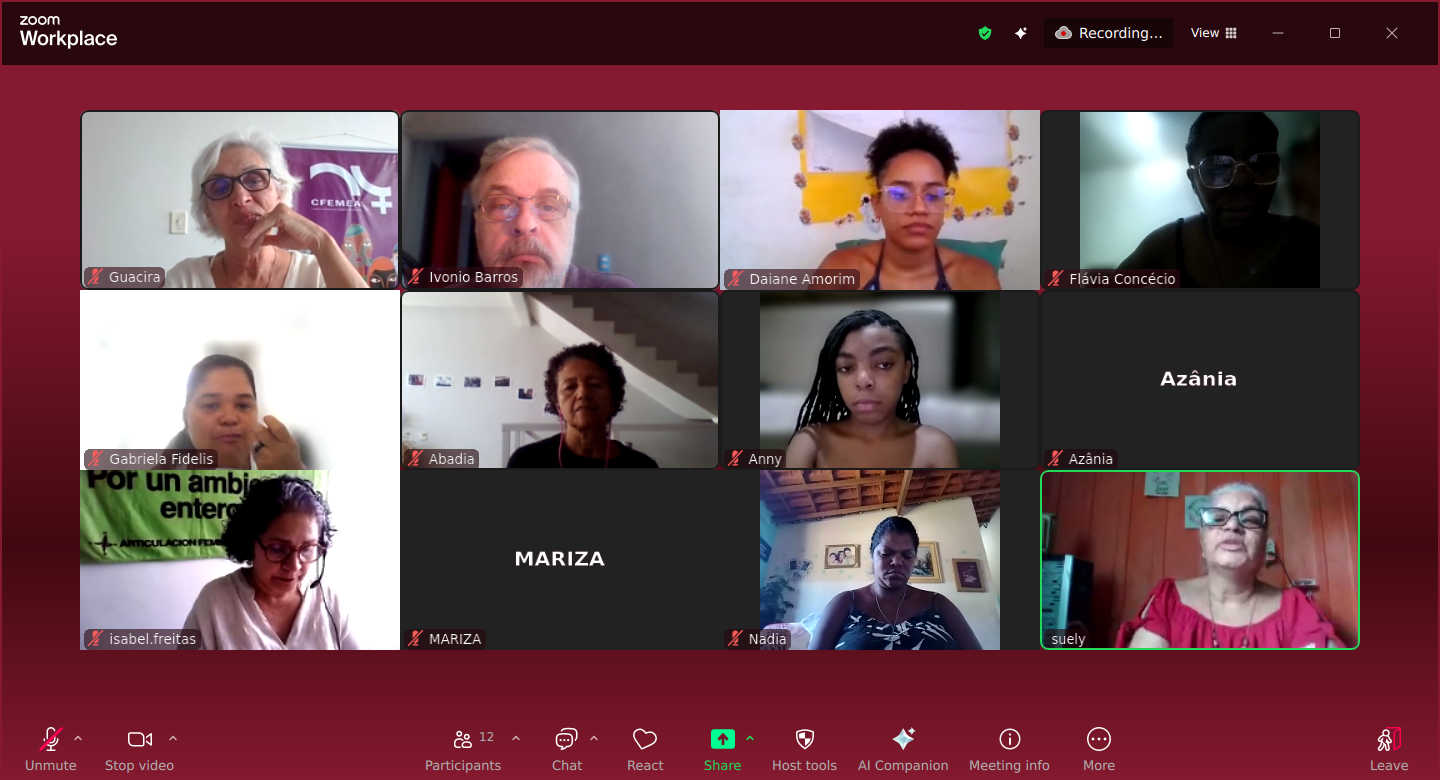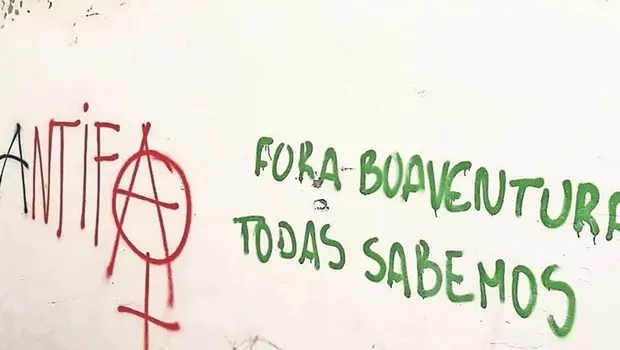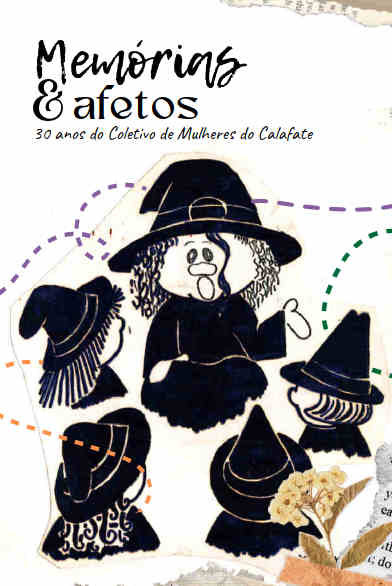A Justiça Restaurativa desembarcou oficialmente no Brasil em 2005, por meio de três projetos-pilotos implantados pelo Ministério da Justiça nas cidades de Porto Alegre, São Caetano do Sul e Brasília. Dezoito anos depois, a prática ganhou espaço no debate público, sendo vista por alguns setores da sociedade como uma eficiente alternativa ao sistema penal, que tende a resolver os conflitos com punição e encarceramento, colocando a vítima no lugar de informante do crime.
A Organização das Nações Unidas (ONU) define a Justiça Restaurativa como aquela que permite a participação segura das vítimas na resolução dos casos e oferece às pessoas que assumam a responsabilidade pelos danos causados, em uma oportunidade de se reabilitarem perante quem prejudicaram e à sociedade. O sistema de punição que predomina atualmente no Brasil não leva em consideração as expectativas e necessidades das vítimas perante o crime, ignorando o contexto social como facilitador da violência. E um dos reflexos disso é que, em 2023, 38% das mulheres que sofreram violência de gênero resolveram a questão sozinhas e 21,3% não acreditavam que a polícia pudesse oferecer solução. Os dados são de uma pesquisa do Fórum de Segurança Pública e AzMina escreveu sobre as falhas do punitivismo nesta reportagem.
Regulamentada em 2016 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Justiça Restaurativa não é obrigatória. Cabe aos juízes, Ministério Público, agente judicial ou à própria vítima escolherem o método, assim como decidir quais serão os casos tratados por esse olhar, já que não há regulamentação que pré-define as situações.
Leia mais: Punir ou educar? PLs tentam modificar Lei Maria da Penha
Um mapeamento do CNJ de 2019 mostra o avanço da prática nos Tribunais de Justiça e Regionais Federais. Entre os que adotam a perspectiva, 88,6% consideram que a Justiça Restaurativa contribui para o fortalecimento da rede de promoção e garantia de direitos, e 9,1% entendem não haver nenhum tipo de contribuição. A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, declarou 2023 como o Ano da Justiça Restaurativa na Educação, num plano de difundir práticas para prevenir a violência nas escolas, nas quais muitas meninas e mulheres são vítimas.
Débora Eisele Barberis, mestre em direito e pesquisadora do tema, vê como uma potencial ferramenta para acolher mulheres vítimas de violência de gênero, mas também que cometeram infrações. No entanto, reduzir a Justiça Restaurativa a resoluções individuais não cumpre seu real objetivo, segundo ela, porque a prática tem a ver com a transformação coletiva. Na entrevista abaixo, ela analisa as potencialidades e as limitações da abordagem, e também pondera sobre as adaptações necessárias para evitar a revitimização.
AZMINA: Como surge a justiça restaurativa e como ela pode ser aplicada em casos de violência de gênero?
Débora Eisele Barberis: Ela surge na década de 1970, pautada em experiências de construção de justiça de comunidades indígenas, entre elas a do Povo Yukon, no Canadá, e os Maoris, na Nova Zelândia. Mas também em perspectivas da criminologia crítica, tendo como uma das principais referências o artigo “Conflito como Propriedade”, do Nils Christie, de 1977.
Ela pode ser aplicada em casos de violência de gênero de várias formas, seja para abordar o próprio crime praticado contra a mulher, seja para construção de rede de apoio para vítimas, e até mesmo de forma preventiva, construindo espaços de diálogo para abordar o tema da misoginia.
Leia mais: Você sabe o que é revitimização institucional?
A ideia central é a escuta individual da mulher, para que ela seja acolhida e respeitada, e que seja construída a responsabilização de quem cometeu a violência. E que possam ser pensados caminhos práticos, planos de ação, para o enfrentamento estrutural da violência. A possibilidade de aplicação envolvendo esse tipo de violência é abordada na Carta da XI Jornada da Lei Maria da Penha.
AZ: Pensando nas mulheres, como a justiça restaurativa pode ser eficiente na prática?
Débora: Antes de compartilhar um exemplo, destaco que a Justiça Restaurativa não se resume ao atendimento de casos de conflitos em específico. Antes de tudo, é uma perspectiva de mudança na forma como nos relacionamos no cotidiano e como convivemos enquanto sociedade. Digo isso porque se o uso for isolado em atendimento de casos, é muito difícil que a mudança aconteça, tendo em vista que todo conflito e violência guardam questões estruturais em sua base. É a perspectiva preventiva junto com a mudança estrutural que possibilitam atender casos de forma mais eficaz.
Vou dar um exemplo de um caso que atendi. Era uma mulher super jovem, por volta dos seus 20 anos, foi pega com documentos falsos em uma caixa lotérica para retirar o dinheiro dos benefícios sociais das pessoas. Joana* tinha um filho bem novo, passava por questões familiares sérias, ficando responsável desde muito cedo por dar conta financeiramente também dos irmãos mais novos. O caso chegou ao Núcleo de Justiça Restaurativa do Tribunal e nós não tínhamos acesso às vítimas diretas, que tiveram seus documentos falsificados.
Leia mais: Violência doméstica: o que é e quais são os tipos
Joana teve acesso a atendimento psicológico, curso profissionalizante e gravou um episódio de podcast (preservando sua identidade) para contar sua história, que depois foi compartilhada com outros jovens. Uma vítima indireta (que teve seu documento falsificado, mas não por Joana) foi ao encontro dela, e ela pôde escutar as consequências daquilo que praticava. Todos esses acontecimentos partiram da iniciativa de Joana.
A utilidade aqui é proporcionar um espaço seguro de responsabilização e de construção de novos caminhos de apoio para uma mulher que recorreu à falsificação de documentos para lidar financeiramente com ela, seu filho e seus irmãos. Uma mulher que pode hoje estar com seu filho, vendo ele crescer. Evitando o encarceramento e possibilitando caminhos de construção de justiça que não seja violento nem com ela e nem com as vítimas.
Em muitos países como Bolívia, Chile, Argentina, a Justiça Restaurativa iniciou sua implementação em casos envolvendo crianças e adolescentes. Porque geralmente são legislações mais flexíveis e culturalmente mais aceitáveis do que aplicar em casos criminais, por exemplo. Já na Colômbia, além desses casos, a prática foi utilizada para o enfrentamento do conflito armado e questões de território. Em matéria de violência de gênero ainda há diversos obstáculos e cautelas importantes para aplicação.
*nome fictício
Leia mais: Prender homens e armar mulheres: as soluções do Congresso para a violência de gênero no Brasil
AZ: Há quem critique a justiça restaurativa em casos de violência de gênero sob o argumento de que nem sempre a vítima tem noção da violência que sofreu, ou está psicologicamente doente para tomar decisões racionais. Como escapar desse labirinto?
Débora: O Estado é construído sobre uma estrutura machista, patriarcal, e o que mais temos são notícias de mulheres que ainda passam por diversas violências durante o processo [de busca por justiça]. De fato, muitas vítimas de violência de gênero não compreendem aquilo como violência, porque é socialmente aceita, praticada e inclusive ensinada. Não me parece que seja um caminho de cuidado colocar uma mulher diante de um sistema estruturalmente machista.
Encarar esse aspecto delicado e desafiador da fragilidade de muitas mulheres vítimas de violência é justamente oferecer apoio, escuta, construção de comunidade de apoio (como grupos de mulheres), acolhimento, acompanhamento psicológico e o que for necessário para que ela se perceba nesse processo. E tudo isso só é possível com a construção de confiança, de um espaço seguro e de escuta.
Quando o Estado toma o protagonismo, se esquece que a vítima é a mulher. Daí em diante, o que está se desenrolando de fato cuida dessa mulher? Não estou falando sobre a necessidade de intervenção em um momento de violência, mas sim sobre o que a mulher gostaria de fazer a partir dele, quais caminhos seguir. Ela é a protagonista, ainda que precise de apoio.
Leia mais: Filhos da violência de gênero: como crianças e adolescentes são afetados pela violência doméstica
AZ: Uma das práticas da justiça restaurativa coloca agressor e vítima frente a frente. Como você analisa isso?
Débora: Essa questão é bastante séria e delicada. De fato, uma das práticas da Justiça Restaurativa se chama “Mediação Vítima-Ofensor-Comunidade”, que prevê o encontro para abordar a violência ocorrida e construir justiça. Mas antes de falar sobre a prática, queria colocar que tudo que é realizado na Justiça Restaurativa é pautado na voluntariedade. A condução do procedimento precisa respeitar primeiramente a vontade e disponibilidade da vítima, em casos de violência de gênero ou quaisquer outros.
As práticas da Justiça Restaurativa foram importadas para o Brasil, e precisam de compreensão crítica e contextualização dos seus usos. Em um país extremamente violento e misógino, é possível que o procedimento inteiro ocorra de forma cuidadosa para as pessoas envolvidas sem que haja o encontro. Considerando a diferença de poder entre as relações de gênero, o encontro pode significar uma revitimização, outra camada de violência. Quando qualquer metodologia causa mais violência, não estamos falando de justiça.
Foi por entender essa necessidade de adaptação das práticas e, mais do que isso, da reconstrução de uma justiça pautada em referências nacionais, a partir de nossas realidades, que eu acabei fazendo um Mestrado na área de Justiça Restaurativa. Disso surgiu o livro “Histórias Não Escutadas: os Mestres Griôs e a Justiça Restaurativa no Brasil” que, de forma inédita, traz a preocupação com a mera aplicação de mecanismos importados. Falta a construção de pensamento crítico para entendermos como a reconstrução da justiça passa antes por aprendermos e dialogarmos com experiências outras, do nosso território.
Leia mais: Meu familiar foi preso injustamente, e agora?
AZ: Quais as situações boas e ruins de aplicação da justiça restaurativa já temos em curso?
Débora: A aplicação da Justiça Restaurativa é considerada satisfatória dependendo da formação das facilitadoras, da qualidade do espaço para o atendimento dos casos, da regulamentação da profissão, da articulação com a rede comunitária. É algo continuado e aprofundado sobre violências estruturais. Não há como dizer que em casos de tal crime é bom e em tal caso não. O ponto central é que crimes envolvendo não só violência de gênero, mas mulheres, é preciso atuar a partir dos recortes sociais, principalmente de gênero.
Ao mesmo tempo, existem duas questões importantes para refletir. A primeira é sobre a dificuldade de encaixar os procedimentos restaurativos num Sistema de Justiça que atua a partir do oposto do que prega a Justiça Restaurativa. Esse é um dos motivos de experiências ruins no atendimento dos casos, principalmente por serem instituições de estrutura violenta, construídas para a punição.
Existe também o fato de as práticas estarem, por exemplo, subordinadas a prazos legais, ao entendimento de juízes e promotores com pouca mobilidade de atuação. Outro aspecto é que, em quase todos os casos que atendi até hoje, as mulheres, ofensoras ou vítimas, chegavam até nós sem ter tido acesso a diversos direitos básicos.
Leia mais: Mães em prisão domiciliar: excesso de restrições impacta o cuidado consigo e com as crianças
Isso mostra que, no Brasil, construir justiça, para além de um acordo ou desfecho de casos, é antes garantir direitos básicos. E muitas dessas mulheres conseguem esse acesso somente a partir do momento em que se envolvem com questões de violência/crime (seja praticando ou sofrendo violência).
AZ: Em quais casos o encarceramento é necessário quando se trata de violência de gênero?
Débora: Pensando que vivemos ainda em uma sociedade violenta, na qual o número de mulheres que sofrem violência e morrem por conta dela é gigantesco, não posso responder isso com uma visão ideal de presídios sendo desnecessários. Depende de cada caso e, principalmente, de cada vítima. Tendo em vista também que, em casos nos quais o homem não aceita participar, o processo criminal acontece normalmente. Atendi uma mulher uma vez que, conhecendo a Justiça Restaurativa, quis propor um procedimento restaurativo, mas não houve aceite por parte do homem e o processo criminal seguiu.
Hoje, minha percepção é de que o encarceramento é necessário para interromper uma violência, preservando a vida e a integridade física de uma mulher, seja se ela está sendo ameaçada em sua casa, sua família, sendo perseguida ou se está em risco, para que aquela violência pare.
Não se pode esquecer que isso não evita que, assim que o homem sair do encarceramento, o risco volte a existir, ou que outros homens façam algo contra ela. Questionar o sistema prisional faz parte de um desenvolvimento sério da Justiça Restaurativa, que se preocupa com mudanças estruturais e culturais. A mulher vítima de violência de gênero, junto com seus apoios, ainda é a primeira a ser escutada para entender se o encarceramento (que significa aguardar o desfecho do processo criminal) é o que vai cuidar dela naquele momento.




 121
121