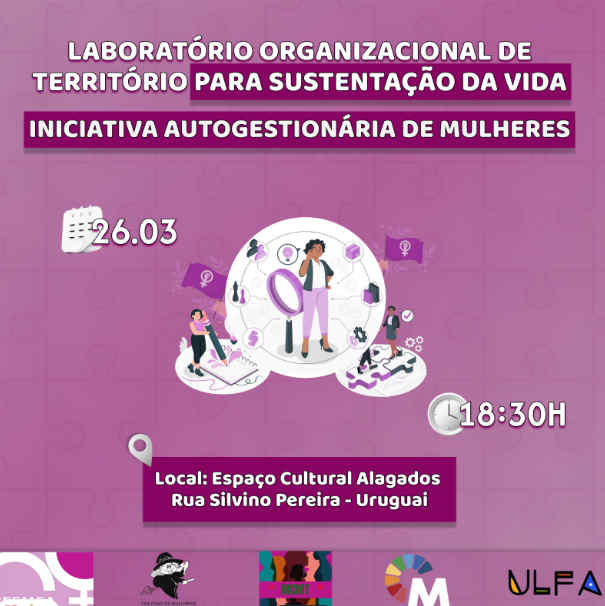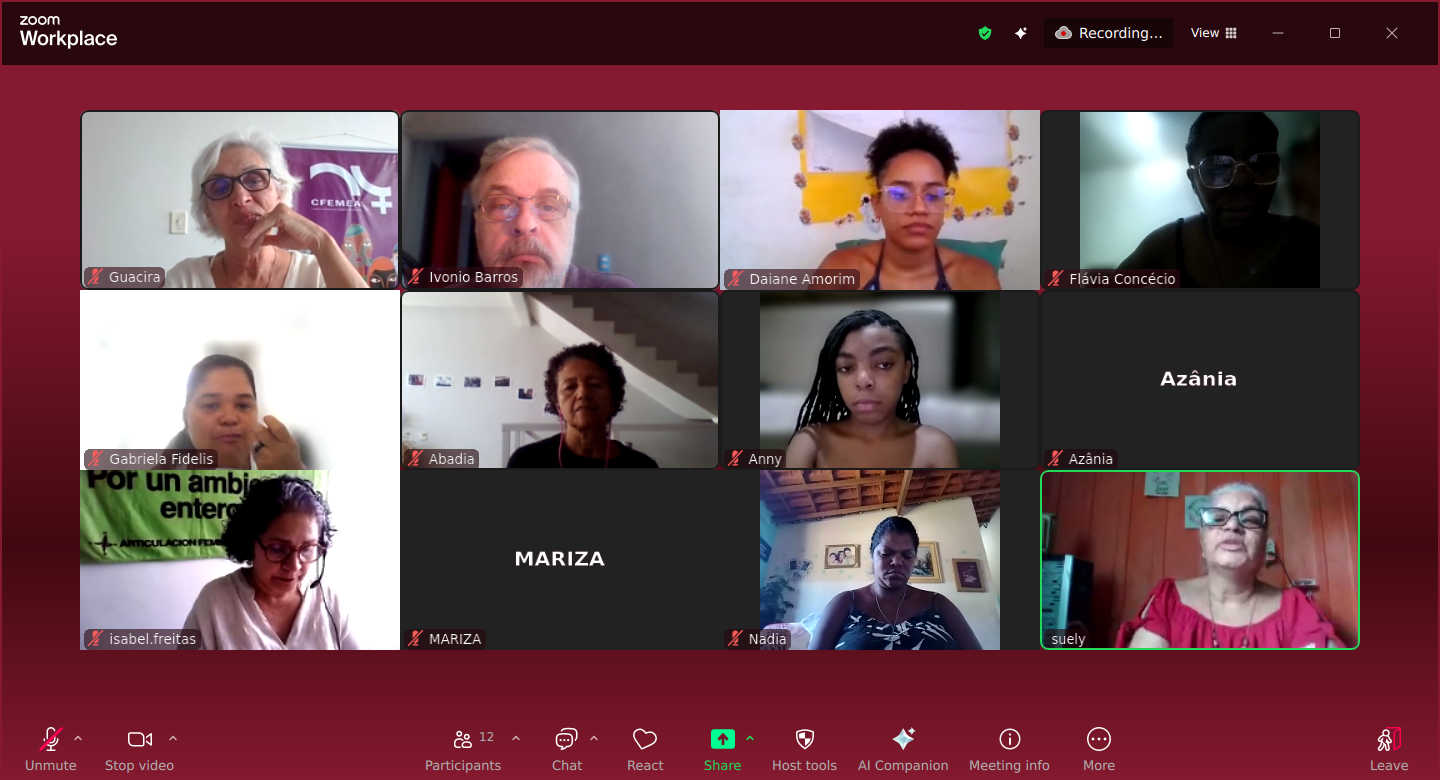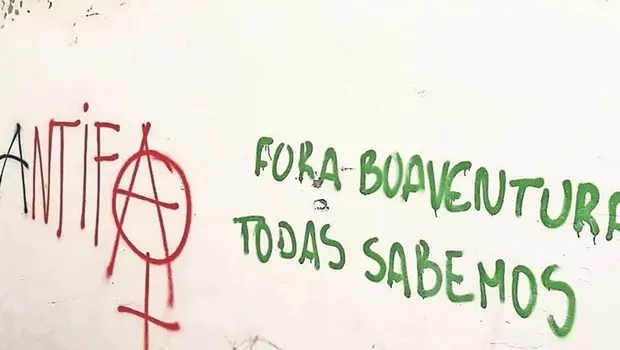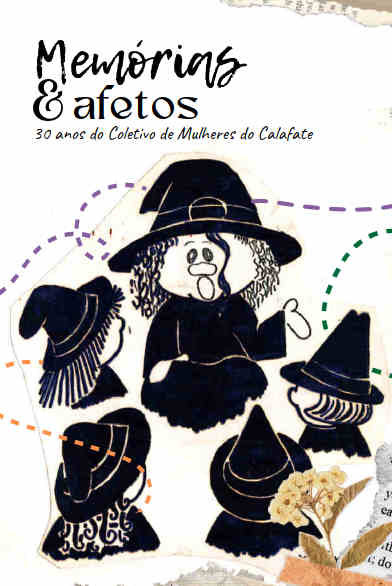O novo arcabouço fiscal do Brasil e seus antecedentes.
A Terra é Redonda - 29/05/2024
Por LEDA MARIA PAULANI
O novo arcabouço fiscal do Brasil e seus antecedentes.
No dia seguinte ao anúncio pelo governo da proposta do Novo Arcabouço Fiscal (NAF), escrevi em uma rede social que a equipe do Ministério da Fazenda dera nó em pingo d’água, pois conseguira conciliar um desenho de política fiscal não totalmente avesso ao mercado (financeiro) com o necessário espaço para o cumprimento das promessas de campanha de Lula, principalmente aquelas associadas às políticas sociais. Ressalvei, no entanto, que a brilhante proposta fora desenhada dentro de uma camisa de força que não precisaríamos estar vestindo.
Poucos dias antes, em seminário sobre desenvolvimento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a conhecida economista indiana Jayati Ghosh disse que o Brasil era um país masoquista, visto que, sem dívida líquida externa, com dívida interna baixa e sem ter exigências do FMI, praticava uma taxa de juros elevadíssima e se autoimpunha a tarefa de gerar superávits primários em meio a tantas demandas sociais e à necessidade de elevar o investimento público.
O inusitado da situação, que, em sua perplexidade, a economista, sem encontrar outra explicação plausível, creditou a um suposto traço masoquista do caráter nacional, deriva justamente de, algumas décadas atrás, termos sido obrigados a vestir uma roupa apertada e de a continuarmos vestindo, apesar da chance que tivemos de rasgá-la e que não soubemos aproveitar.
É um pouco da história de como chegamos a essa situação que pretendemos trazer aqui. Essa história teve um capítulo decisivo a partir do impeachment da presidenta Dilma Rousseff e do período Michel Temer-Jair Bolsonaro que se seguiu. Tal capítulo passa, dentre outros elementos, pelas condições muito peculiares que permitiram a derrota de Jair Bolsonaro, mas não do bolsonarismo (frente muito ampla, concessões ao mercado financeiro, ao fisiologismo parlamentar etc.), pela necessidade de se negociar com um Congresso ultraconservador e que exibe poder político crescente (avultado pelo próprio processo de impeachment), pela força exponencial que foi ganhando em nossa sociedade o projeto econômico liberal e o domínio da riqueza financeira, e pela premência de se revogar a bizarrice de uma regra fiscal abrigada no seio mesmo da Constituição Federal (CF).
Tão logo foi anunciado, o Novo Arcabouço Fiscal recebeu uma saraivada de críticas. Dos liberais, grande mídia incluída, por supostamente confiar demais na recuperação das receitas do Estado e não se preocupar devidamente em “cortar gastos”. Da esquerda, por ter sido visto como um novo teto, mais frágil talvez, mas ainda assim um teto, restritivo à ampliação dos gastos públicos, sobretudo dos investimentos públicos. Independentemente de qual seja a análise que possamos fazer do Novo Arcabouço Fiscal enquanto instrumento de política econômica per se, é só no contexto anteriormente sumariado, e com a posição de seus antecedentes, que faz sentido discuti-lo.
Trata-se, portanto, de resgatar a história da austeridade no Brasil que é, simultaneamente, a história da dominância financeira, a qual vem acompanhada pelo enfraquecimento crônico do poder Executivo, em conjunto com uma sorte de rarefação da democracia que está em pleno curso, e à qual mais à frente retornaremos.
Vestindo uma camisa de força
Em 15 de dezembro de 2016, apenas quatro meses depois de consumado o golpe que retirou Dilma Rousseff do poder sem crime de responsabilidade,1 foi promulgada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional 95 (EC 95). Seu objetivo era alterar as disposições transitórias da Constituição de 1988 para instituir um novo regime fiscal, popularmente conhecido como “teto de gastos”. Formatada de modo rígido, a emenda congelava, em termos reais, pelos 20 anos seguintes, as despesas correntes e os investimentos públicos federais.
A deposição da ex-presidenta como condição sine qua non para a aprovação da draconiana EC 95 foi indiretamente admitida pelo próprio Michel Temer, ex-vice-presidente que assumira o poder maior com o impedimento de Dilma. Apesar da narrativa oficial de que a destituição se devera a “pedaladas fiscais” (o suposto crime de responsabilidade), em reunião no Conselho das Américas (Council of the Americas) em Nova York no final de setembro de 2016, Michel Temer reconheceu, com todas as letras, que Dilma Rousseff fora afastada por não ter concordado com a aplicação ao país do programa “Ponte para o Futuro”, um libelo ultraliberal elaborado pelo PMDB,2 partido político de Temer.
Supostamente destinado a “preservar a economia brasileira e tornar viável seu desenvolvimento”,3 o documento arrolava uma série de iniciativas que, em conjunto, conformavam um programa liberal puro-sangue, ou seja, sem os arroubos sociais dos programas do Partido dos Trabalhadores (PT). Dentre elas encontravam-se todas as mudanças necessárias à instituição do teto de gastos (ainda que tal expediente não aparecesse ali com esse nome). A seu lado alinhavam-se, entre outros elementos: o fim das vinculações constitucionais de educação e saúde, a livre negociação trabalhista, a terceirização total, o endurecimento de regras e capitalização da previdência, a privatização sem peias e a liberdade comercial plena (fazendo tábula rasa de Mercosul, Brics, etc.).
A aprovação do teto de gastos ao final de 2016, como já adiantado, foi apenas um capítulo de uma história que começara muito tempo antes. O Novo Arcabouço Fiscal, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula em 30 de agosto de 2023, que veio em sua substituição, é também parte inequívoca dessa história. Um pouco mais folgada que a camisa de força anterior, essa roupa nova continua, contudo, muito apertada. Como chegamos a isso?
As circunstâncias que nos obrigaram a começar a usar esse traje desconfortável remetem aos anos 1980, quando o Brasil se tornou insolvente em dólar por conta dos seguidos choques do petróleo e, sobretudo, do golpe financeiro que os Estados Unidos aplicaram ao mundo, em 1979, com a quadruplicação de suas taxas de juros. O elevado nível do endividamento externo quando o país foi atingido pelos juros extorsivos da “política do dólar forte”4 decorreu da necessidade que tivera o governo militar de fazer frente ao desequilíbrio externo provocado pelo primeiro choque do petróleo, de 1973, sem prejudicar em demasia o crescimento, que vinha embalado no ritmo do “milagre”.
Ao mesmo tempo, o país prestava com isso um enorme serviço a uma riqueza financeira internacional crescente e ávida por aplicações, no contexto de um cenário de crise mundial. Como os contratos tinham sido estipulados, em sua maioria, a taxas flutuantes, o aumento superlativo dos juros quebrou o país (assim como vários outros países da América Latina). A partir de então, o Brasil enfrentou uma década e meia de altíssima inflação e teve que se submeter aos ditames do FMI.
Depois de atender algumas exigências dos credores internacionais (securitizar a dívida externa, abrir o mercado de títulos privados e públicos e dar continuidade à abertura financeira da economia, com a retirada gradativa dos controles ao livre fluxo de capitais), o país conseguiu, nos primeiros anos da década de 1990, solucionar a questão da dívida externa, pendente desde a moratória de 1987, destravando assim o mercado internacional de crédito.
O retorno dos capitais ao Brasil possibilitou o sucesso do Plano Real que, depois de muitos outros planos frustrados ao longo de 15 anos de pressão inflacionária ininterrupta, foi bem-sucedido em alcançar a estabilidade monetária de nossa economia.5 Lançado em 1994 e elaborado pela equipe econômica de Fernando Henrique Cardoso (FHC), então ministro da Fazenda, o Plano Real, no entanto, não foi apenas um plano de estabilização. Ele trouxe consigo também a intenção, explícita no governo de FHC (1995-2002), de abraçar os dogmas liberais (tal como então arrolados pelo chamado Consenso de Washington) e transformar o país numa potência financeira emergente.
Assim, ancoradas na estabilização monetária, outras providências foram tomadas, com FHC já presidente da República, visando transformar o país num porto seguro para a valorização da riqueza financeira internacional, cujo volume aumentava velozmente. Vieram desse modo a concessão de isenções tributárias a ganhos financeiros de não residentes, alterações legais para dar mais garantias aos direitos dos credores do Estado, uma reforma previdenciária para cortar gastos públicos e abrir o mercado previdenciário ao capital privado, uma política monetária de elevadíssimos juros reais6 e, como não poderia deixar de ser, a busca incansável por polpudos superávits primários.7 Começava aí, digamos assim, oficialmente, a história do país dentro dessa roupa apertada demais.
No entanto, mostrou-se quimérica a crença de que o crescimento doméstico poderia se apoiar integralmente na poupança externa, livrando definitivamente o país das recorrentes crises externas que marcavam sua história. Em janeiro de 1999, como desdobramento da crise que atingira primeiro os países asiáticos (Tailândia, Indonésia, Coreia do Sul e Taiwan) e depois a economia russa, o Brasil enfrentou forte crise cambial, enorme perda de divisas, e recorreu mais uma vez ao FMI.
Em consequência, não só o país viveu um período de crescimento medíocre, quando não recessivo, como houve uma mudança substantiva na política econômica. Em vez do câmbio fixo, um dos responsáveis pela crise, dado o populismo cambial operado por FHC no ano anterior visando sua reeleição, foi adotado o regime de câmbio flutuante, e, junto com ele, o sistema de metas de inflação. Foi só aí, na realidade, que o traje do país como pretendente a potência financeira emergente foi concluído, pois o controle da política monetária deixou de ser feito via taxa câmbio, para ser feito através do regime de metas.
Dentre os preceitos caros ao chamado Consenso de Washington, que balizava nossa política macroeconômica pós-Plano Real, estava a adoção de um regime cambial de taxa única e definida pelo mercado, ou seja, um regime de câmbio flutuante. Contudo, o câmbio fixo era o fiador do sucesso da nova moeda, que foi mantida sobrevalorizada e se constituiu como trunfo político maior de FHC. Somente depois de já reeleito,8 movido pela grande crise de dezembro de 1998/janeiro de 1999, FHC alterou a política cambial. Os dois novos elementos (câmbio flutuante e regime de metas de inflação) combinaram-se com a imposição de resultados primários sempre positivos para constituir o famoso tripé macroeconômico, o qual conforma até hoje o ambiente em que as decisões econômicas são tomadas no Brasil.
Assim, se a adesão incondicional às recomendações do Consenso de Washington foi uma espécie de batismo da economia brasileira nas águas pesadas da política fiscal contracionista, a substituição da antiga “âncora cambial” pela “âncora monetária” (regime de metas e superávits primários) submergiu de vez o país nessa atmosfera turva, tornando o novo traje ainda mais apertado. Tão apertado que, mesmo a ascensão ao poder federal de um presidente e um partido forjados na luta cotidiana pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores não mudou quase nada nessa história.
No início da primeira gestão de Lula, os parâmetros macroeconômicos vigentes foram inclusive aprofundados: elevação ainda maior da taxa de juros, chegando aos 26,5% ao ano em março de 2003, enorme arrocho monetário, com corte de cerca de 10% nos meios de pagamento da economia e, sobretudo, adoção de uma meta de superávit primário maior do que a exigida pelo próprio FMI. No último acordo, assinado em junho de 2002, a meta de superávit primário acordada fora de 3,75% do PIB e Lula, tendo que beijar a cruz com mais fervor para que acreditassem nele,9 elevou voluntariamente a meta para 4,25%.
Ao longo do tempo, os governos do PT foram se diferenciando de seus antecessores porque, combinadas com a continuidade dessa agenda liberal10 e com os superávits primários, que continuaram a ser produzidos, foram sendo adotadas políticas sociais de alto impacto, capazes de reduzir a desigualdade e praticamente extinguir a miséria absoluta, além de permitir, entre outras coisas, o acesso ao ensino superior de milhões de jovens oriundos das famílias de mais baixa renda (principalmente negros). O ciclo de commodities dos anos 2000, que beneficiou enormemente o Brasil, foi o elemento decisivo na possibilidade então existente de conciliação entre a roupa apertada que o país continuava a vestir e as políticas públicas que se implantavam.
Mas o boom de commodities produziu ainda outro resultado alvissareiro: a elevação substantiva das reservas em divisas do país, que cresceram mais de cinco vezes, saltando de US$ 35,9 bilhões em dezembro de 2001 para US$ 180,3 bilhões em dezembro de 2007. Nessa nova situação, não só o país resolvera definitivamente os problemas com seus credores externos, como recuperara preciosos graus de liberdade na condução da política econômica, não dependendo mais do FMI e podendo deitar fora de vez aquela vestimenta tão incômoda. Mas, para tanto, era mister a existência de um projeto para o país capaz de redesenhar os parâmetros de sua inserção na divisão internacional do trabalho, de elevar a produtividade e de gerar empregos de melhor qualidade.
O projeto, porém, não existia. O governo de Lula, reeleito em 2006, buscava extinguir a miséria e reduzir a desigualdade, mas sem mexer nos marcos legais, institucionais e socioeconômicos que davam protagonismo à riqueza e aos interesses financeiros. Ademais, quase duas décadas de juros reais elevadíssimos (quase sempre os maiores do mundo) e câmbio sobrevalorizado — medidas afinadas com o projeto de transformar o Brasil numa potência financeira — desindustrializaram precocemente o país, provocando um retrocesso em nossa matriz produtiva, que passara a se apoiar cada vez mais em atividades de baixo valor agregado (agropecuárias e extrativas).
Mesmo o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado por Lula nos primeiros dias de sua segunda gestão (janeiro de 2007), foi, nesse sentido, iniciativa tímida, mero reconhecimento do poderoso efeito multiplicador de produto, renda e emprego acionado por investimentos públicos. O processo de resgate da autonomia do Estado brasileiro na condução econômica poderia ter evoluído e se consolidado desde então? Sem dúvida, mas já estourava no plano internacional a grande crise financeira, embaralhando mais uma vez as cartas e, ao fim e ao cabo, transformando nossa roupa fiscal apertada em verdadeira camisa de força.
De início driblada pelos expedientes de subsídios aos setores de maior efeito multiplicador (automóveis e eletrodomésticos) e por uma agressiva expansão do crédito ao consumidor, a crise veio a se agravar no início da primeira gestão da presidenta Dilma. O período coincidiu com a agudização da crise financeira nos países da periferia da Europa, o que teve consequências graves para todo o comércio mundial, afetando negativamente o componente externo de nossa demanda agregada. Para enfrentar a nova conjuntura e, ao mesmo tempo, tentar reverter o processo de desindustrialização, o governo lançou o plano “Brasil Maior”, visando fortalecer as exportações e elevar a competitividade da indústria nacional também no mercado interno.
Além do fortalecimento do crédito subsidiado do BNDES para investimentos e para empresas exportadoras, previa-se reintegração de tributos em contrapartida a vendas externas, isenção de impostos na aquisição de máquinas e equipamentos, e desoneração da folha de pagamentos para os setores que fossem grandes empregadores de mão de obra. Políticas de conteúdo local para determinados setores, como veículos, máquinas e medicamentos também foram acionadas.
Ao lado desses expedientes, tiveram início, em conjunto com medidas de controle do fluxo internacional de capitais, um processo de relaxamento monetário visando reverter o movimento de apreciação do real e uma política de intervenção nos preços administrados (combustíveis, energia) para conter os impactos inflacionários da desvalorização do câmbio.
Por fim, para enfrentar o ruidoso discurso “anti-gastança” que alegava ser necessário compensar o gasto tributário decorrente das isenções e desonerações do plano “Brasil Maior”, efetivou-se um aperto substantivo na política fiscal, afetando sobretudo os investimentos públicos, que vinham acelerados desde o lançamento do PAC. A taxa média real de crescimento dos investimentos do governo central cai de 26% ao ano no período 2006-2010 para 1,8% na primeira gestão de Dilma.11
Mas a aposta não vingou. A ausência de resposta do investimento privado (a folga fiscal concedida às empresas transformara-se em margens de lucro majoradas), o corte efetuado nos investimentos públicos para acomodar as isenções e desonerações, o esgotamento dos impulsos derivados do consumo e a continuidade da crise externa, com enorme redução do preço das commodities exportadas pelo país, começaram a produzir resultados desastrosos do ponto de vista do crescimento, culminando com a taxa de 0,52% em 2014, último ano da primeira gestão de Dilma Rousseff.
Além disso, o advento das taper tantrum nos EUA a partir de 2013, com especulações em torno do estancamento da política de quantitative easing, trouxe ainda mais incerteza, o que levou a uma piora das contas externas. Isso fez o país, pela primeira vez desde 2002, perder reservas (foram menos US$ 14,4 bilhões), interrompendo-se assim um período de altas impressionantes, que levara os estoques de divisas dos US$ 35,9 bilhões de 2001 para mais de US$ 370 bilhões em 2012.
O agravamento do cenário econômico levou à conturbação do cenário político, fazendo com que o país, depois das manifestações de maio/junho de 2013, se encaminhasse dividido às eleições presidenciais de 2014. Dois modelos estavam em disputa: de um lado, a tentativa de, mesmo em meio à crise, dar prosseguimento à estratégia conciliatória; de outro, a busca por resgatar in totum a agenda liberal e romper com esse arranjo. A vitória apertada de Dilma Rousseff e o terrorismo econômico praticado pela grande mídia corporativa levaram a presidenta a uma equivocada tentativa de agradar ao mercado, trazendo, em 2015, para o comando da política econômica, um prócer do setor financeiro: Joaquim Levy.
A guinada ortodoxa de Joaquim Levy, tendo como meta única e exclusiva melhorar o resultado primário (um corte brutal no PAC – R$ 58 bilhões, correspondentes a 1,1% do PIB –, um reajuste brusco dos preços administrados, elevação contínua da taxa de juros básica), levou a um imediato agravamento do cenário. A retomada da ortodoxia combinou-se, para um desfecho ainda pior, com os efeitos deletérios da “Operação Lava Jato” sobre setores chave para a formação bruta de capital fixo, como petróleo e construção civil, e com as pautas-bomba12 que um Congresso cada vez mais poderoso lançava sobre o Executivo, elevando a instabilidade político-econômica do país. Os resultados de 2015 foram péssimos: o PIB caiu 3,6%, a inflação ultrapassou a barreira dos 10% anuais e o resultado primário ficou negativo em 2,1% do PIB – muito pior dos que os 0,56% negativos de 2014 e que tanto barulho havia causado na mídia.
O ambiente economicamente sombrio transformou a inquietação política, mantida há dois anos em fogo brando, num verdadeiro fogaréu, levando às cinzas não só o mandato da presidenta, mas a fugaz possibilidade de recuperarmos nossa autonomia e nos livrarmos finalmente da aflitiva indumentária que fôramos obrigados a trajar por um quarto de século. Veio, junto com o golpe de 2016, o mandato tampão de Michel Temer e o famigerado teto de gastos, o capítulo mais característico da história brasileira nas águas venenosas da austeridade e do domínio dos interesses financeiros, com o qual abrimos estas reflexões. Terminado o mandato de Temer e com Lula preso, veio Jair Bolsonaro, a nuvem fascista e o ultraliberalismo de Paulo Guedes, um defensor de primeira hora do garrote fiscal.
Ressalte-se que a adoção do teto de gastos não veio ocupar um lugar vazio, como se não existisse até então nenhum mecanismo doméstico capaz de exercer qualquer tipo de controle sobre as contas públicas, para além dos mecanismos de pressão do FMI nos períodos em que a economia andava submetida a seu comando. Ao contrário, a CF já previa, por exemplo, a chamada “regra de ouro”, que proíbe ao Executivo contrair dívidas para financiar despesas correntes, incorrendo o ente público em crime de responsabilidade em caso de desobediência.
Além disso, desde a adoção do tripé, em janeiro de 1999, a necessidade de produzir resultados primários positivos tornou-se cláusula pétrea do regime macroeconômico vigente. Esse princípio foi reforçado, no ano seguinte, com a aprovação da Lei Complementar no. 101/2000, que criminaliza o gestor que a contraria. Conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal (LRF), ela institui limites e condições para despesas com pessoal e renúncia de receitas, a par de obrigar o estabelecimento de metas anuais relativas às receitas, despesas, resultados primário e nominal, e montante da dívida de cada ente federativo.
Isto posto, e dada a situação bastante confortável tanto do ponto de vista externo (ao final de 2016 o país não tinha nenhuma pendência e acumulava US$ 365 bilhões em reservas) quanto da relação dívida/PIB (que não chegava a 70%,13 quando a de países desenvolvidos como EUA, Reino Unido e Japão era da ordem de 100% ou mais), o teto de gastos foi uma imposição adicional desnecessária, pra não dizer criminosa, de enorme severidade, que encontra evidente explicação no plano ideológico, mas que indica também a clara afinidade eletiva entre, de um lado, as forças políticas que se combinaram para destituir Dilma e, de outro, o peso cada vez maior dos interesses ligados à riqueza financeira e ao rentismo, em permanente luta em prol das políticas de austeridade.
O terrorismo econômico que nos acompanha desde a estabilização monetária, mobilizando fantasmas vários (retorno da inflação, crise externa, explosão da dívida interna etc.), sempre no sentido de forçar o poder Executivo a adotar as medidas do agrado do mercado financeiro, subiu o nível dos ataques a Dilma, quando, ao final de 2014, o resultado primário ficou negativo em 0,56% do PIB. Sendo produto muito mais da desaceleração do PIB do que de explosão descontrolada dos gastos públicos, o déficit foi um dos principais argumentos a enfraquecer Dilma, já bastante fragilizada politicamente pela apertada vitória nas urnas. Também não é mera coincidência o fato de o crime de responsabilidade (não provado) atribuído a Dilma ter sido o das “pedaladas fiscais”;14 era evidente aí a ascensão agora vertiginosa da ideologia fiscalista que culminaria no teto de gastos de Michel Temer.
Mas o impeachment de Dilma Rousseff revelou também outro fator de fundamental importância na constituição da camada de gelo, finíssima, sobre a qual caminham hoje as autoridades econômicas: o progressivo poder do Legislativo – levando alguns especialistas a falar na existência de um semipresidencialismo ou de um parlamentarismo à moda da casa, sem primeiro-ministro nem a prerrogativa de dissolução do Congresso – e, junto com ele e associado ao domínio dos interesses financeiros e dos preceitos liberais (como a obsessão por resultados fiscais positivos), uma sorte de rarefação da própria democracia. A ascensão de Temer jogaria muita água nesse moinho, pois o novo presidente se submeteu integralmente ao Congresso, fazendo a balança de poder entre Executivo e Legislativo pender cada vez mais para o segundo.
Caminhando sobre gelo fino
A vitória do presidente Lula nas eleições de 2022, ainda que por margem mínima e inferior à inicialmente prevista, tirou de cena, ao menos por ora, o horizonte lúgubre de ultraliberalismo e terror fascista. Dado o teto de gastos e a anarquia instaurada por Jair Bolsonaro nas contas públicas no último ano de seu mandato, tentando a reeleição, havia uma tarefa urgente para o governo que assumiria em 1.o de janeiro de 2023: negociar com o Congresso um respiro fiscal para esse ano, capaz de permitir que as promessas mais notórias de Lula, sobretudo as referentes ao Bolsa Família (R$ 600 mensais por família, mais R$ 150 por criança até 6 anos), pudessem ser cumpridas logo de início.
Sob os auspícios da frente ampla que se formara para derrotar Jair Bolsonaro, mas também por conta da competência e tenacidade da equipe de transição constituída pelo novo governo, as negociações foram extremamente bem-sucedidas. A discussão em torno da chamada Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição (que a grande mídia logo batizou de “PEC da gastança”) resultou na Emenda Constitucional 126. Aprovada e promulgada pelo Congresso em 21 de dezembro de 2022, a Emenda autorizava um gasto extra-teto de R$ 145 bilhões em despesas correntes em 2023 (cerca de 1,5% do PIB). Excluíram-se também desse limite despesas com investimentos relacionados a excesso de arrecadação no ano anterior, desde que limitadas a R$ 23 bilhões. Além disso, logrou-se um acordo entre os parlamentares e a equipe de transição no sentido de retirar a política fiscal da Constituição.
O preço a pagar por tudo isso, além da elevação do montante de recursos a destinar às emendas impositivas dos parlamentares, foi a promessa de substituir o grilhão fiscal constitucional por um novo expediente, em forma de projeto de Lei Complementar (LC),15 a ser enviado ao Congresso pelo novo governo até 31 de agosto de 2023. Eis a costura que viabilizou o Novo Arcabouço Fiscal – roupa, como veremos, ainda apertadíssima e que, repetimos, não precisaríamos estar vestindo. Ela é, de todo modo, muito mais inteligente e – importante dizer, mais flexível do que o pernicioso teto, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista jurídico (dado que está fora da Constituição)
Vejamos os elementos fundamentais do Novo Arcabouço Fiscal, tal como aprovado (LC 200/23, de 31 de agosto de 2023), para especular depois acerca da existência (ou não) de espaço político para algo muito diferente. Voltaremos assim à questão da relação entre política econômica e rarefação da democracia a que aludimos ao final da seção anterior.
O primeiro expediente importante e diferenciador no desenho proposto e aprovado é a existência de bandas para o resultado primário. Em lugar de uma cifra certeira para ele, como proporção do PIB, tem-se um intervalo em torno de uma meta (que vai de menos 0,25% a mais 0,25%), dentro do qual os valores obtidos são considerados satisfatórios. Como o Executivo não tem o controle total das cifras envolvidas (a arrecadação, por exemplo, depende da performance da economia como um todo), a flexibilidade é bem-vinda.
O segundo elemento a destacar é um dispositivo anticíclico que limita, nos dois sentidos, o crescimento real das despesas primárias. Assim, de acordo com a LC 200/23, tais despesas deverão crescer anualmente, em termos reais, pelo menos 0,6%, o que garante um mínimo de recursos para fazer face aos gastos inescapáveis com a manutenção da máquina pública, mesmo que, num período de crise, a arrecadação esteja em queda. De outro lado, num período de bonança, em que a receita esteja se expandindo a taxas elevadas, o crescimento real da despesa fica limitado a 2,5%, sendo que, no caso de resultado primário acima da banda, o excedente poderá ser parcialmente utilizado para investimentos no período seguinte. Uma crítica comum aos expedientes que buscam instituir controles sobre os gastos públicos é seu caráter naturalmente pró-cíclico. O NAF procura contornar esse problema.
Por fim, dado que toda essa engenharia contábil-fiscal-orçamentária se destina supostamente a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, existe uma cláusula (o inciso I do caput do artigo 5o da LC 200/23) que limita o crescimento real das despesas primárias, num determinado ano, a 70% da variação real das receitas primárias nos 12 meses encerrados em junho do ano anterior, sendo que o não cumprimento das metas de resultado primário rebaixa este limite para 50%. Fazendo a despesa crescer sempre a taxas inferiores às da receita, fica garantido que, pelo menos do ponto de vista fiscal, não haverá pressão para o crescimento da relação dívida/PIB.16
Combinada com o mecanismo anticíclico já apresentado, a última regra, considerado o limitador de 70%, significa que, mesmo que a receita cresça, em termos reais, abaixo de 0,86%, as despesas deverão crescer no mínimo 0,6% nos mesmos termos. De outro lado, mesmo que a receita cresça, em termos reais, mais do que 3,57%, as despesas não poderão crescer mais do que 2,5% nos mesmos termos. Respeitadas essas balizas, o limitador de gastos do NAF não é determinado em termos absolutos, como no antigo teto, mas estabelecido a partir do comportamento das receitas, o que parece muito mais lógico.
No seu conjunto, o Novo Arcabouço Fiscal é um instrumento muito mais versátil e razoável do que o desacreditado teto de gastos, mas, ainda assim, uma roupa muito apertada, que, vale repetir, não precisaríamos estar trajando se não tivesse ocorrido o golpe de 2016, a “ponte para o abismo” de Temer e, na sequência, a ameaça fascista de Jair Bolsonaro, casada com o ultraliberalismo de Paulo Guedes. Sendo assim, evidentemente, o que se exigia do expediente a substituir o teto era alguma coisa da mesma família, ou seja, um mecanismo que contasse com travas, limitadores e sistemas de ajuste dos gastos públicos. Em termos de desenho, portanto, não parece razoável supor que houvesse espaço para algo mais progressista (voltaremos mais adiante à questão do espaço).
De toda forma, as críticas mais elaboradas ao Novo Arcabouço Fiscal17 tocam mesmo é no valor dos parâmetros: a meta de resultado primário zero para 2024, o limitador de gastos de 70% da variação da receita; e as barras inferior e superior (0,6% e 2,5%) do mecanismo anticíclico. São críticas que fazem sentido. De fato, a meta de resultado primário zero para 2024 parece bastante ambiciosa, assim como parece um tanto restritivo demais o limitador de gastos, além de muito baixas tanto a barra inferior quanto a barra superior do mecanismo anticíclico.
Todavia, convém lembrar que, diferentemente do antigo teto, incluído na Constituição e requerendo PECs para sua alteração (Bolsonaro, por exemplo, teve de propor várias PECs visando furar o teto — para o auxílio emergencial na pandemia, para não pagar precatórios etc.), os parâmetros em discussão são todos estabelecidos em instrumentos jurídicos infraconstitucionais, ou seja, em lei ordinária, como as metas de resultado primário, ou, no máximo, em lei complementar, como as barras inferior e superior do mecanismo anticíclico, a dimensão das bandas do resultado primário e o limitador de gastos. No caso destes dois últimos (bandas e limitador), cumpre observar que, no projeto originalmente enviado pelo executivo ao Congresso, seus valores seriam estabelecidos a cada ano pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), uma Lei Ordinária, mas o poder Legislativo não aceitou a proposta e colocou os parâmetros na lei complementar que instituiu o Novo Arcabouço Fiscal.
Essa alteração, bem como tantas outras mudanças destinadas a produzir, a partir da proposta do Executivo, um desenho de regime fiscal o mais cerceador possível para a atuação do governo, evidenciam a força e o peso crescentes que o poder Legislativo vem adquirindo no país. Em entrevista que concedeu ao site A Terra é Redonda, postada em 8 de janeiro de 2024, o cientista político e professor da Universidade de São Paulo (USP) André Singer afirmou que, pelo menos desde 2015, “parece que o Congresso, mais especificamente a Câmara dos Deputados, veio se encaminhando na direção de governar o Brasil”.
Segundo André Singer, desde Eduardo Cunha (2015-2016), as presidências da Câmara vêm se sucedendo sempre sob essa marca. Por exemplo, na época de Rodrigo Maia (2016-2021), o traço era tão evidente que se falava até em “parlamentarismo branco”. Em artigo escrito a quatro mãos ao final de 2023, o mesmo André Singer e Fernando Rugitsky asseveram que a elevação do valor das emendas parlamentares individuais de 1,2% para 2% da Receita Corrente Líquida (uma das moedas de troca para a aprovação do NAF) reforça as tendências semipresidencialistas que crescem no país desde pelo menos Eduardo Cunha.18
Ora, dado o quadro e considerando ser este, por força do crescimento do próprio bolsonarismo, um dos congressos mais conservadores da história,19 parece evidente que ficou muito estreita a margem de manobra do executivo na negociação dos parâmetros, sobretudo na definição das metas de resultado primário para o período 2024-2026.20 Apesar de julgar que a meta de resultado zero em 2024 “definitivamente não faz sentido”, o economista Luiz Carlos Bresser-Pereira, ex-ministro da Fazenda e da Administração, ressalvou, no entanto, que o compromisso de Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, com esse resultado, serviu para aprovar o Novo Arcabouço Fiscal no Congresso.
Mas o quadro dos elementos que convertem o andamento das negociações em torno do regime fiscal numa verdadeira caminhada sobre gelo fino não ficaria completo se não mencionássemos outra importante alteração institucional que resultou do levante conservador-liberal que tomou conta do país depois do golpe de 2016. Além da adoção do teto de gastos, o governo Temer foi responsável por outras contrarreformas de peso, que implicaram transformações significativas do ponto de vista social, com enormes perdas para os direitos dos trabalhadores, como a reforma trabalhista e a generalização da terceirização.
Todavia, do ponto de vista que aqui nos concerne, ou seja, dos graus de liberdade que detém o poder Executivo para implementar uma dada política econômica, a mudança mais profunda veio mesmo com o governo posterior. Em fevereiro de 2021, Bolsonaro sancionou a Lei Complementar 179/21, que concedeu autonomia ao Banco Central do Brasil (BCB). A principal alteração introduzida pela lei foi o mandato de quatro anos do presidente e de seus diretores, não coincidente com o mandato do presidente da República.
A autonomia retira da alçada de cada novo governo eleito uma das pernas mais importantes da política econômica, a política monetária, pois terá que conviver, por dois anos, com um BC não escolhido por ele. No caso brasileiro, Lula foi o primeiro governante a ter que passar por essa experiência danosa, haja vista, quando a lei entrou em vigor, no início de 2021, que coube a Jair Bolsonaro indicar o presidente do BCB, cujo mandato encerrar-se-á apenas em dezembro de 2024.
Ora, se a necessária coordenação fiscal-monetária já fica dificultada pela mera existência de uma autonomia conferida à autoridade monetária, imagine-se o grau de dificuldade que vai envolver a relação entre, de um lado, um recém-eleito governo de centro-esquerda, com objetivos sociais substantivos, e, de outro, um BCB indicado pelo governo anterior, marcado pelo ultraliberalismo. O embate que se estabeleceu, desde o início desta terceira gestão de Lula, entre as autoridades econômicas do novo governo e o presidente do BCB, que manteve uma taxa de juros absurdamente elevada, a despeito das melhoras crescentes em todos os indicadores macroeconômicos (preços, resultados externos, câmbio etc.), é forte evidência dessa imensa dificuldade.
Essa substantiva alteração no panorama regulatório-institucional do país ratifica a margem mínima de manobra da equipe do atual governo na negociação sobre os termos do novo regime fiscal. Não é difícil perceber como isso se relaciona também com uma sorte de rarefação da democracia em muitos dos expedientes celebrados pelo pensamento liberal, tais como as privatizações e o teto de gastos. Em todos esses casos trata-se de reduzir o espaço de atuação da política, seja porque se confere ao mercado a gestão e produção daquilo que passava, antes, de algum modo, pela atuação do Estado, seja porque o gasto público passa a ser pautado, e constrangido, não por escolhas políticas, mas por “questões técnicas”.
No caso da autonomia do Banco Central, essa redução na capacidade de operação da política parece ser ainda mais verdadeira. Refletindo sobre a história intelectual e factual da ideia de austeridade, Mark Blyth, professor da Brown University, lembra, em livro de 2013,21 que foram os “achados” do monetarismo de Milton Friedman e da teoria da escolha pública de James Buchanan que conferiram ao corte indiscriminado de gastos públicos um estatuto teórico que havia sido perdido desde a avalanche keynesiana. Mas o que é mais interessante na reflexão é a conexão que efetua entre o predomínio dessas ideias desde os anos 1980/1990 e a defesa de uma autoridade monetária independente.22
Para ele, esse conjunto de teorias chega a um resultado inescapável: o único jeito de salvar a economia das forças destrutivas que derivam da própria organização democrática seria banir a democracia. Como isso parece um tanto impopular, a alternativa é tornar a autoridade monetária independente, pois, segundo esse ideário, essas autoridades podem comprometer-se de forma crível com a estabilidade dos preços, coisa que os políticos não podem.
Tomados esses elementos em conjunto, parece haver certa lógica e estratégia no comportamento das autoridades econômicas do governo Lula 3 na condução das negociações que lograram aprovar, seja o desenho do Novo Arcabouço Fiscal, seja a dimensão de seus parâmetros. A própria meta zero para o resultado primário em 2024 parece fazer algum sentido, pois cumpria retirar de uma autoridade monetária ultraliberal, e com autonomia total para comandar a política monetária, qualquer argumento que reforçasse a prática de manter os juros reais em níveis estratosféricos. Não por acaso, mesmo tendo prazo, até 31 de agosto de 2023, para apresentar a proposta do novo regime fiscal, o Ministério da Fazenda antecipou em cinco meses o anúncio, dando a público a proposta do Novo Arcabouço Fiscal em 31 de março.
Um bom indicador dos fortes constrangimentos a que está submetido hoje o poder Executivo no Brasil é considerar o Inflation Reduction Act (IRA), aprovado pelo governo dos EUA em agosto de 2022. Visando apoiar a transição energética para fontes renováveis e de energia limpa, são previstos polpudos investimentos, inclusive sob a forma de incentivos fiscais. Para financiá-los, o governo americano criou um novo imposto de 15% sobre qualquer empresa que apresente receita anual acima de US$ 1 bilhão por três anos consecutivos, além de uma alíquota de 1% sobre a recompra de ações. Segundo o presidente Joe Biden, o IRA restaura a justiça tributária, fazendo com que as grandes corporações paguem sua parte.23 Bem, qualquer coisa parecida com isso que se tentasse por aqui geraria um barulho ensurdecedor e poderia acabar em impeachment.
Por conta disso, a tão discutida proposta de reforma tributária está sendo conduzida pelo atual governo de forma fatiada. Em 20 de dezembro de 2023 foi promulgada a Emenda Constitucional 132, que trata de uma parte da reforma tributária. Apesar de conter tributos sobre o patrimônio – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para jatinhos, iates e lanchas, e tributação progressiva sobre heranças –, o foco maior da EC 132 são os impostos indiretos, com a criação de dois tipos de imposto sobre valor adicionado, que substituirão outros cinco tributos. Essa parte da reforma, porém, não mexe com a carga tributária, nem com sua distribuição; visa primordialmente a modernização do sistema, tornando-o mais moderno e eficiente e com menor custo de fiscalização para o Estado.
A parte mais difícil, e que certamente gerará enorme pressão no sentido contrário visto que os interesses das grandes corporações e do grande capital estão encastelados no Congresso, é aquela a ser discutida neste ano de 2024, que tocará nos impostos diretos, e por meio da qual se buscará fazer os mais ricos pagarem a sua parte (por exemplo, tributando dividendos; fora o Brasil, apenas Estônia e Letônia não cobram tal tributo).
Sabendo da dificuldade que será efetuar esse rearranjo no sistema tributário, o Ministério da Fazenda vem buscando, por enquanto, combater os chamados “jabutis”, espertezas inseridas no arcabouço jurídico, principalmente a partir de 2014,24 que promovem privilégios tributários injustificados, dos quais se beneficiam sobretudo as maiores empresas. Os dados do Tesouro Nacional indicam que a razão receita federal/PIB passou de uma média de 19,7% no período 2004-2013 para uma média de 17,7% no período 2014-2023. Mesmo desconsiderando o ano de 2020, completamente atípico por conta da pandemia, essa última razão fica em 18%.25 Como explicar esse sumiço de quase 2% do PIB em termos de receita? Os “jabutis” são parte importante da resposta e o Ministério da Fazenda resolveu trabalhar por aí para resgatar a capacidade de gasto do Estado, enquanto a reforma tributária não se completa.
Coerente com esse esforço, várias medidas já foram tomadas: (a) a mudança das regras no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), garantindo o voto de qualidade para o fisco, em caso de empate; (b) a reversão parcial da isenção de imposto de renda sobre juros do capital próprio; (c) a tributação de fundos exclusivos e offshore; (d) a reoneração da folha de pagamentos de 17 grandes setores; (e) a reinserção na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos valores decorrentes das receitas de doação ou subvenção efetuadas pelo poder público;26 (f) a regularização de importações via e-commerce; (g) a taxação das bets (apostas esportivas on-line); (h) a revogação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), criado durante a pandemia, mas prorrogado pelo Congresso até 2026; (i) a trava colocada nas regras de emissão de títulos com isenção de imposto de renda, como as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA);27 (j) a limitação em valor de fundos exclusivos previdenciários (que contam com isenção tributária).
Algumas dessas medidas já se tornaram lei, outras ainda vigoram como medidas provisórias e outras demandaram tão somente alterações administrativas para que pudessem ser implantadas. Considerado todo esse conjunto de iniciativas, é razoável pensar que a meta de déficit zero pode funcionar também como elemento de pressão sobre o Legislativo no sentido de transformar em lei as medidas provisórias que instituíram muitas dessas alterações.
Em livro recente, o atual ministro da Fazenda defende a tese de que, com a Proclamação da República ao final do século XIX, o Estado brasileiro, caracteristicamente patrimonial, mudou de mãos sem se republicanizar.28 A substantiva coleção de “jabutis” encontrados pelo governo no arcabouço regulatório-tributário do país, propiciando todos eles a evasão fiscal daqueles que mais podem pagar, é evidência clara de que essa situação, produtora de anomia social, lamentavelmente não se alterou. Se associamos a esse quadro o momento histórico em curso, com um quarto poder representado pelo Banco Central, o Congresso mais conservador da história querendo (e em parte conseguindo) governar e o fascismo à espreita, é fácil perceber quão fina é a camada de gelo sobre a qual teve de caminhar o Executivo federal na árdua tarefa de engendrar para o sinistro teto de gastos um substituto que não incomodasse tanto.
No entanto, como tentamos demonstrar, não se tratou aqui meramente de encontrar um expediente técnico adequado para resolver um problema macroeconômico de ordem fiscal. Há toda uma trajetória ideológico-político-econômica, construída ao longo de décadas, que obriga hoje o governo Lula 3, como nunca antes, a adotar um figurino fiscalista. As forças materiais (riqueza financeira, rentismo) que continuam a se beneficiar da impossibilidade de desvestirmos essa camisa de força possui atualmente no binômio “Executivo enfraquecido & Legislativo com poder inflado”, um forte aliado no sentido de perpetuar essa situação. Evidente que não são largos os limites dessa estratégia de conciliar postura pró-austeridade com justiça tributária.
Só a história poderá dizer até que ponto ela foi bem-sucedida, se conseguiu minimamente começar a reverter o jogo e, sobretudo, se conseguiu livrar o país da volta do ultraliberalismo abraçado ao horror fascista.
*Leda Maria Paulani é professora titular sênior da FEA-USP. Autora, entre outros livros, de Modernidade e discurso econômico (Boitempo).
Publicado originalmente no portal Phenomenal World
Notas
- Dilma foi inicialmente afastada de seu cargo em 16 de maio de 2016 e teve o mandato presidencial definitivamente cassado em 31 de agosto do mesmo ano. A acusação era tão frágil que Dilma perdeu o cargo, mas não perdeu, sequer temporariamente, seus direitos políticos.
- PMDB era a sigla do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que em 2018 removeu a palavra “partido” do nome e tornou-se Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
- Veja-se Uma Ponte para o Futuro, Fundação Ulysses Guimarães, 2015, p. 2.
- O termo, muito apropriado, é de Maria da Conceição Tavares, em: Tavares, M.C. (1997). A Retomada da Hegemonia Norte-americana. In: Tavares, M.C. e Fiori, J. L. (org.) Poder e Dinheiro: uma economia política da globalização. Petrópolis: Vozes.
- Além da recomposição das reservas do país, também pesou para o sucesso do Plano Real o remédio técnico adequado para driblar uma inflação com caráter fortemente inercial: a Unidade Real de Valor (URV), uma moeda virtual. Veja-se a respeito: Paulani, L. M. (1997). Teoria da Inflação Inercial: um episódio singular na história da ciência econômica no Brasil? In: Loureiro, M. R. (org.) 50 anos de Ciência Econômica no Brasil. Petrópolis: Vozes.
- A política de juros reais elevados beneficiava duas vezes o capital rentista, elevando seus rendimentos e, ao mesmo tempo, tornando muito baratos os ativos reais e financeiros aqui produzidos.
- Resultado primário, como se sabe, decorre do cotejo entre receitas e despesas do setor público em dado período, não considerados, entre as despesas, os recursos destinados ao pagamento do serviço da dívida pública. No Brasil, o resultado do setor público é composto por três elementos: resultado do governo central (governo federal mais Banco Central), resultado dos governos regionais (estados e municípios) e resultado das empresas estatais.
- O segundo mandato, cabe mencionar, era vedado pela Constituição Federal até 1997, quando o Congresso mudou a norma constitucional para autorizar a reeleição, num processo legislativo abertamente apoiado pelo então presidente.
- A muito apropriada metáfora que utilizo aqui é de Paulo Arantes, em: Arantes, P. E. (2003). Beijando a Cruz. Reportagem, n. 44.
- Além da manutenção do regime macroeconômico herdado de FHC, medidas adicionais para completar o processo de inserção da economia brasileira nos circuitos internacionais de valorização financeira foram imediatamente tomadas: reforma da lei de falências (para aumentar a segurança dos credores do setor privado), extensão da reforma da previdência aos servidores públicos e aprofundamento do processo de abertura financeira. O único item do menu relativamente refreado foi o processo de privatização.
- Os dados são da nova série das contas nacionais – base 2010 – divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), instituição responsável no Brasil pela elaboração das contas nacionais e pelas estimativas dos agregados macroeconômicos, como o PIB.
- No contexto da crise entre os poderes Executivo e Legislativo que se aprofundou em 2015, a Câmara passou a colocar em pauta e aprovar uma série de projetos que criavam despesas permanentes, dificultando ainda mais a situação fiscal do governo. Na mídia, essas iniciativas ficaram conhecidas como pautas-bomba.
- O conceito aqui é o de Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), que abrange o governo federal (menos o Banco Central), os governos estaduais e municipais e as empresas estatais. Em dezembro de 2016, quando é aprovado o teto de gastos, a relação está em 69,8%. A informação, do Banco Central, está disponível aqui.
- Manobras contábeis envolvendo repasses do Tesouro Nacional a bancos federais, de modo a se postergar despesas, produzindo-se artificialmente resultados fiscais mais favoráveis.
- Ainda que de aprovação mais restritiva do que uma Lei Ordinária, a Lei Complementar é, no entanto, de aprovação mais fácil do que uma Emenda Constitucional. No caso da Lei Ordinária, exige-se maioria simples (metade mais um dos presentes na casa legislativa), enquanto no caso da Lei Complementar (que trata necessariamente de assuntos mencionados de modo explícito na Constituição) exige-se maioria absoluta (metade mais um do número total de membros da casa legislativa). Por fim, para a aprovação de uma Emenda à Constituição exige-se maioria qualificada (2/3 dos membros da casa legislativa).
- Vale observar aqui que, nas últimas décadas, a pressão maior para o crescimento dessa relação vem do elevado patamar dos juros pagos aos detentores da dívida pública e não dos gastos públicos. Mas o primeiro tipo de despesa, ao contrário do segundo, não causa escândalo nenhum, seja dentre os economistas liberais, seja na grande mídia corporativa.
- Veja-se, por exemplo: Baptista JR, P. N. (2023).Há Conciliação com a Faria Lima?; Bastos, P. P. Z. (2023). Quatro Tetos e um Funeral. Centro de Conjuntura do IE Unicamp – CECEON, Nota 21; Bastos, P. P. Z.; Decache, D.; Alves, JR, A. J. (2023). O Novo Regime Fiscal Restringirá a Retomada do Desenvolvimento em 2024? Centro de Conjuntura do IE Unicamp – CECEON, Nota 22.; Singer, A.; Rugitsky, F. (2023).Governo Lula – Ano I – Economia.
- deputado federal, então no PMDB, que comandou a Câmara dos Deputados de 1º de fevereiro de 2015 a 16 de julho de 2016, quando teve seu mandato cassado.
- Veja-se a respeito, por exemplo, os anúncios do Pleno News,ConjureR7.
- Sobre a questão da meta de resultado primário para 2024, surgiu inclusive um manifesto de economistas pedindo sua revisão, assinado também pela autora destas linhas. Apesar de entender os expressivos constrangimentos que marcam as negociações (e que tento explicar no texto), julguei que assinar um tal manifesto ajudaria a pressionar politicamente o parlamento para aquiescer com a mudança. O próprio presidente Lula, de resto, também já havia feito um pleito no mesmo sentido. A respeito do manifesto, veja-se aqui.
- Blyth, M. (2013). Austerity: The History of a Dangerous Idea. Oxford: Oxford University Press.
- Vale observar que, a partir da LC 179/21, o BCB passou a ter autonomia administrativa (mandato fixo para presidente e diretores) mas não independência stricto sensu, uma vez que parâmetros importantes como as metas de inflação continuam a ser definidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), constituído pelo Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, além da própria autoridade monetária. De todo modo, trata-se de mudança expressiva, uma vez que o Executivo deixa de poder influenciar a forma de operacionalização da política monetária. Se, por exemplo, julgar que os juros estão em níveis abusivos, nada pode fazer, impedido que está de substituir o presidente da autoridade monetária.
- Veja-se a respeito esta notícia e este discurso do presidente.
- O ano de 2014 é chave, porque é o primeiro a receber o impacto cheio da extensão das desonerações tributárias sobre a folha de pagamento (na realidade uma mudança de base da cobrança da contribuição previdenciária patronal da folha para o faturamento das empresas; a mudança se torna desoneração porque a alíquota sobre o faturamento não compensa a retirada da contribuição sobre a folha). A medida já havia sido introduzida em 2011, no âmbito do “Brasil Maior”, mas abrangia pouquíssimos setores. Como forma de enfrentar o agravamento das consequências da crise internacional sobre a economia brasileira, o governo Dilma envia ao Congresso, ao longo de 2012 e 2013, medidas provisórias que estendem o benefício a setores como construção civil e comércio varejista, grandes empregadores de mão de obra. Mas o Congresso, no ritmo das pautas-bomba, o amplia para inúmeros outros setores. Segundo Laura Carvalho, o número de setores beneficiados passa de quatro, originalmente, para 56 em 2014. Ver em: Carvalho, L. (2018). Valsa Brasileira. São Paulo: Todavia, p.70.
- Os cálculos utilizaram os dados da receita total do governo federal deduzidas as transferências constitucionais e legais a estados e municípios, disponíveis aqui. Os dados sobre o PIB são do IBGE, recolhidos do site Ipeadata.
- A exclusão desses valores da base de cálculo desses tributos destinava-se a incentivar os investimentos, mas uma medida do Congresso (LC 160/2017) equiparou as subvenções de custeio às subvenções de investimento. Pela nova legislação (Lei 14.789, de 29/12/2023), no caso das subvenções destinadas a investimentos, será gerado um crédito fiscal.
- Visando incentivar investimentos nos setores agrícola e imobiliário esses títulos, assim como os Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs) e os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) são isentos de imposto de renda. Ocorre que os lastros elegíveis para a emissão desses títulos foram se alargando, desvirtuando assim sua finalidade original. Em duas resoluções emitidas pelo Conselho Monetário Nacional ao final de fevereiro de 2024, ajustes são feitos para barrar a emissão indevida de títulos isentos.
- Ver em: Haddad, F. (2022). O Terceiro Excluído: Contribuição para uma Antropologia Dialética. Rio de Janeiro: Zahar, p. 13.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA




 280
280