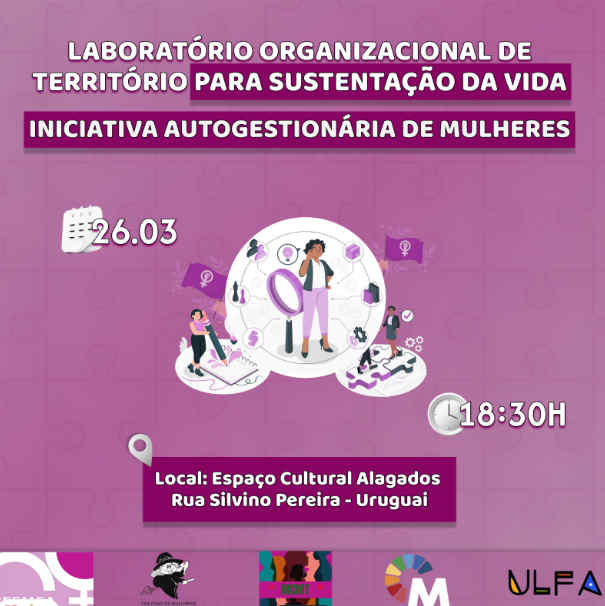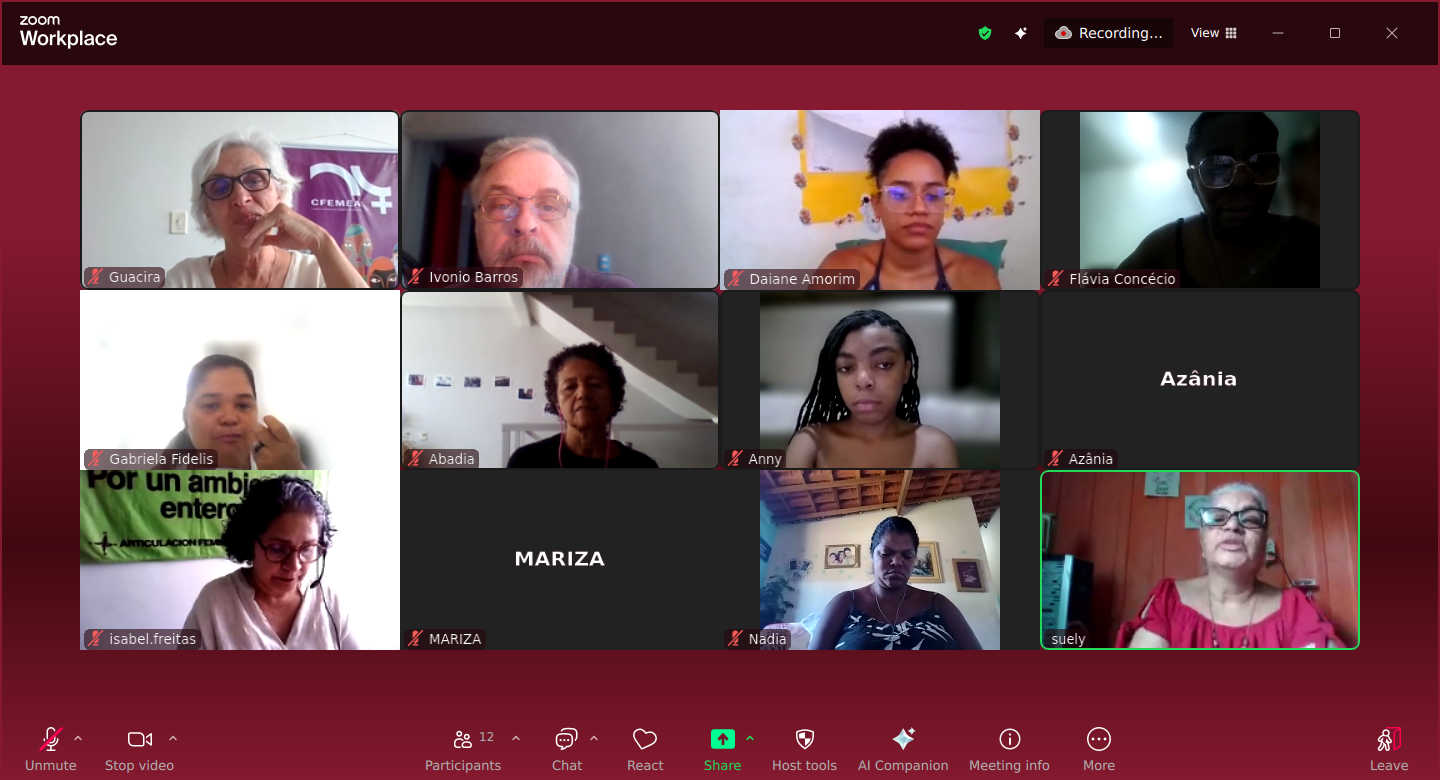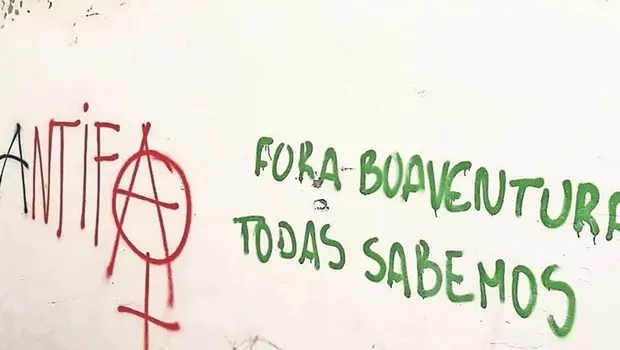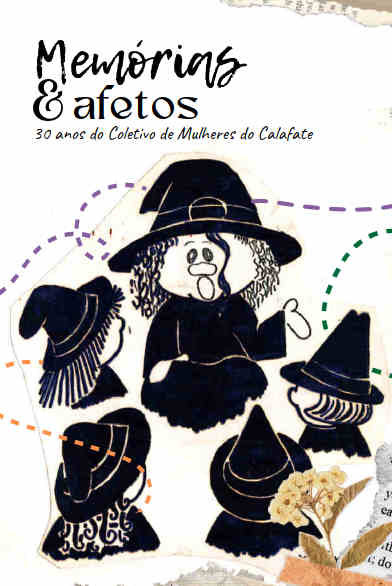Em livro recém-lançado, historiadora reintrepreta conceitos de Marx a partir de olhar feminista e vê no Comum caminho para o pós- capitalismo. Leia capítulo sobre papel das mulheres na construção de novas lógicas sociais na América Latina

Por Silvia Federici e Peter Lenebauch (prefácio)
MAIS:
O texto a seguir (“A luta das mulheres e a produção dos comuns urbanos”) é um dos capítulos de Reencantando o Mundo, de Silvia Federici — antecedido por trechos do prefácio. A obra acaba de ser publicada pela Elefante, parceira editorial de Outras Palavras. Está disponível no site da editora.
Prefácio
 Em fevereiro de 1493, a bordo de um navio, voltando de sua primeira viagem à América, Cristóvão Colombo escreveu ao rei da Espanha um relato sobre as pessoas que acabara de conhecer. “De tudo o que têm, se algo lhes for solicitado, nunca recusam; em vez disso, convidam a pessoa a aceitá-lo e mostram tanto amor que dariam seu coração” (Brandon, 1986, p. 7-8). Colombo havia encontrado um comum. Silvia Federici escreve inspirada por esses povos: não só por aqueles que outrora viveram e compartilharam o comum, como também pelos que o vivem e o compartilham agora, no nosso mundo. Federici não romantiza o “primitivo” — está interessada em um mundo novo, reencantado.
Em fevereiro de 1493, a bordo de um navio, voltando de sua primeira viagem à América, Cristóvão Colombo escreveu ao rei da Espanha um relato sobre as pessoas que acabara de conhecer. “De tudo o que têm, se algo lhes for solicitado, nunca recusam; em vez disso, convidam a pessoa a aceitá-lo e mostram tanto amor que dariam seu coração” (Brandon, 1986, p. 7-8). Colombo havia encontrado um comum. Silvia Federici escreve inspirada por esses povos: não só por aqueles que outrora viveram e compartilharam o comum, como também pelos que o vivem e o compartilham agora, no nosso mundo. Federici não romantiza o “primitivo” — está interessada em um mundo novo, reencantado.
Em vez de escrever a bordo de um navio e se reportar ao rei, Federici voa pelos oceanos, viaja em ônibus sacolejantes, se junta a multidões nos metrôs, anda de bicicleta e conversa com pessoas comuns, especialmente mulheres, na África, na América Latina, na Europa e na América do Norte. Com caneta, lápis, máquina de escrever ou computador, registra não o “planeta das favelas”, mas o planeta dos comuns. Como mulher e feminista, ela observa a produção dos comuns nos trabalhos cotidianos de reprodução — lavar, abraçar, cozinhar, consolar, varrer, agradar, limpar, animar, esfregar, tranquilizar, espanar, vestir, alimentar os filhos, ter filhos e cuidar de doentes e idosos.
Reencantando o mundoressignifica as categorias marxistas, reinterpretando-as em uma perspectiva feminista. […] Ao recuperar o feminismo revolucionário e rejeitar a celebração neoliberal do privado e do indivíduo que nos dá o Homoidioticus(da palavra grega para “privado”), Federici nos oferece a Femina communia. Na sua visão política, não há comuns sem comunidade, e não há comunidade sem mulheres.
O que são os comuns? Enquanto Federici evita uma resposta essencialista, seus ensaios giram em torno de dois pontos: a reapropriação coletiva e a luta coletiva contra a maneira como fomos divididos. Os exemplos são múltiplos. Às vezes ela oferece quatro características: (i) toda a riqueza deve ser compartilhada; (ii) comuns exigem obrigações e direitos; (iii) comuns de cuidado também são comunidades de resistência que se opõem a todas as hierarquias sociais; e (iv) comuns são o “outro” do modelo estatal. De fato, o discurso dos comuns está enraizado na crise do Estado, que agora deturpa o termo para seus próprios fins.
[…]
O que é encantamento? Para Federici, “encantamento” não se refere ao passado, mas ao futuro. Talvez seja essa a parte principal do projeto revolucionário dos comuns, além de ser inseparável deles. Nada se ganha ansiando e postergando. Leia, estude, pense, ouça, converse e, ao lado de outras pessoas, aja, isto é, lute. Como Federici nos diz, o novo mundo está à nossa volta, diz respeito a nós, e somente nossa luta pode trazê-lo à existência e reencantá-lo.
A luta das mulheres e a produção dos comuns urbanos
A luta nas áreas rurais continua na cidade: homens e mulheres deslocados de suas terras formam novas comunidades em áreas urbanas. Apropriam-se de espaços públicos, constroem abrigos, ruas, comércios, por meio do trabalho coletivo e dos processos comunais de tomada de decisão. Mais uma vez, as mulheres tomaram a frente. Como escrevi outras vezes (Federici, 2017b), nas periferias das crescentes megacidades da América Latina, em áreas ocupadas principalmente pela ação coletiva, e encarando uma crise econômica permanente, as mulheres estão criando uma nova economia política ancorada em formas cooperativas de reprodução social, estabelecendo seu “direito à cidade” e criando uma base para novas práticas de resistência e recuperação (Harvey, 2012 [2014]).
Igualmente importante é a socialização das atividades reprodutivas, como fazer compras, cozinhar e costurar. A história dessas atividades é longa. Em 1973, no Chile, depois do golpe militar, mulheres de assentamentos proletários, paralisadas pelo medo e sujeitas a um programa brutal de austeridade, uniram seu trabalho e seus recursos. Começaram a fazer compras e cozinhar em equipes de vinte ou mais pessoas nos bairros em que viviam. Essas iniciativas, fruto da necessidade, produziram muito mais que uma expansão de recursos limitados. O ato de se reunirem e rejeitarem o isolamento forçado a que estavam sujeitas no regime de Pinochet transformou qualitativamente a vida delas, dando-lhes autoestima e quebrando a paralisia induzida pela estratégia de terror do governo. Além disso, reativou a circulação de informação e de conhecimento, essencial à resistência. E transformou a ideia do que significa ser boa mãe e esposa, contribuindo para a redefinição do termo ao saírem de casa e participarem de lutas sociais (Fisher, 1993a). O trabalho de reprodução social deixou de ser uma atividade puramente doméstica e individual; junto com as grandes ollas comunes [panelas comunitárias], o trabalho de casa foi para as ruas e adquiriu uma dimensão política.
Essa política não passou despercebida pelas autoridades, que viram a organização de cozinhas populares como subversivas, como atividade comunista. Em resposta a essa ameaça, a polícia passou a realizar batidas nos bairros. Algumas das mulheres que participavam das cozinhas populares rememoram esse período:
Sara: Com trezentas pessoas envolvidas, era difícil esconder o que estava acontecendo. Eles vinham e derrubavam as despensas, nos faziam parar de cozinhar e prendiam todas as lideranças […]. Vieram muitas vezes, mas a cozinha continuava de pé […].
Olga: A polícia vinha: “O que está acontecendo aqui? Uma cozinha comunitária? Por que estão fazendo isso se sabem que é proibido?”. “Porque estamos com fome.” “Parem de cozinhar!” Eles diziam que fazíamos política. Os feijões quase prontos, e eles jogavam tudo fora […]. A polícia veio muitas vezes, mas conseguíamos fazer com que a cozinha continuasse funcionando, uma semana em uma casa, na semana seguinte, em outra. (Fisher, 1993a, p. 32-3)
Essas estratégias de sobrevivência fortaleciam o sentimento de solidariedade e identidade, e demonstravam a capacidade das mulheres de reproduzir a vida sem depender completamente do mercado, contribuindo, no período pós-golpe, para manter vivo o movimento que havia levado Allende ao poder. Na década de 1980, esse movimento se fortaleceu o suficiente para organizar uma resistência bem-sucedida à ditadura.
Formas coletivas de reprodução social também proliferaram no Peru, na Argentina e na Venezuela. Nos anos 1990, de acordo com o teórico social uruguaio Raúl Zibechi (2012b, p. 236-9 [2015, p. 66-9]), só em Lima havia mais de 15 mil organizações populares que forneciam leite ou café da manhã para crianças e organizavam as cozinhas e os conselhos de bairro. Na Argentina, as piqueteras, mulheres proletárias, ao lado de seus filhos e outros rapazes, exerceram função primordial na resposta à crise econômica catastrófica de 2001, que paralisou o país por meses. Fecharam as ruas, construíram acampamentos e organizaram barricadas (piquetes) que chegavam a durar mais de uma semana. Parafraseando o que Zibechi (2003) escreve a respeito das famosas Madres de la Plaza de Mayo, podemos dizer que as piqueteras “entenderam a importância de ocupar o espaço público”. Elas reorganizaram as atividades de reprodução social nas ruas, cozinhando, limpando, tomando conta das crianças e sustentando as relações sociais; nesse processo, transmitiam a paixão e a coragem que fortaleceram e enriqueceram sua luta (Rauber, 2002, p. 115). O testemunho da pesquisadora e cientista social Isabel Rauber é significativo:
Desde o começo, desde os primeiros piquetes […], a presença de mulheres e crianças era crucial. Determinadas a não voltar para casa sem algo para colocar nas panelas, as mulheres iam aos piquetes para defender sua vida com unhas e dentes. Determinadas a conquistar seus objetivos, participavam diretamente e garantiam a organização da vida cotidiana nas barricadas, que geralmente duravam mais de um dia. Se precisassem montar barracas, se fosse necessário um revezamento para vigiar a segurança do piquete, preparar a comida — certamente, junto com os homens —, para construir barricadas e defender as posições escolhidas, ali estavam as mulheres. (Rauber, 2002, p. 115)
Rauber enfatiza — e eu diria que isso se aplica às lutas de muitas mulheres atualmente, não só na América Latina — que, conforme o neoliberalismo promove ataques genocidas aos meios de subsistência das pessoas, o papel das mulheres se torna mais importante. A luta contra o neoliberalismo deve ter raízes nas atividades que reproduzam nossa vida, porque, nas palavras de um militante citado por Rauber (2002, p. 115), “tudo começa no cotidiano e, então, é traduzido em termos políticos. Onde não há vida cotidiana, não há organização, e onde não há organização, não há política”.
Seu ponto de vista se confirma no que dizem Natalia Quiroga Díaz e Verónica Gago sobre o movimento das piqueteras, argumentando que a crise econômica de 2001 induziu “a feminização da economia e, com isso, a escassez dos recursos necessários para a reprodução” (Díaz & Gago, 2014, p. 13). Assim que a economia oficial colapsou, levando ao fechamento de muitas empresas e até de bancos, impedindo que as pessoas conseguissem sacar suas poupanças, uma economia diferente, “feminina”, emergiu. Foi inspirada na lógica do trabalho doméstico, mas organizada coletivamente em espaços públicos, evidenciando o caráter político e o valor social do trabalho reprodutivo. Uma economia de subsistência emergia quando as mulheres ocupavam as ruas, levando pratos e panelas às barricadas e assembleias de bairro, formando redes de escambo e vários tipos de cooperativas. Isso permitiu a sobrevivência de milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, redefiniu o que é valor e onde ele é produzido, identificando-o cada vez mais com a capacidade de gerenciar coletivamente a reprodução de nossa vida, cujo ritmo e cuja necessidade dão uma nova forma ao espaço e ao tempo urbanos.
Apesar de o movimento das piqueteras ter se desmobilizado desde então, suas lições não foram esquecidas. Pelo contrário: o que era uma resposta a uma crise imediata se transformou, em muitos bairros proletários argentinos, em uma ampla realidade social e em uma parte do tecido social mais duradouro. Como documentou Marina Sitrin (2012, p. 81-3), anos depois da rebelião de 2002 as assembleias de bairro e as formas de cooperação e ação coletiva que nasceram nos piquetes se mantiveram. Nas villas1 [favelas] de Buenos Aires, podemos ver melhor de que maneira a recusa ao empobrecimento e à expropriação — propulsora dos piquetes — se materializou na construção de um novo mundo. Ali se encontram mulheres em tal situação que todos os momentos da vida cotidiana se tornaram instâncias de escolha política, pois nada lhes é devido nem assegurado: tudo chega por meio de negociação e luta, tudo precisa ser continuamente defendido. Água potável e eletricidade precisam ser negociadas com o Estado, assim como boa parte do material para asfaltar ruas e evitar que a chuva as transforme em rios de lama. Mas as mulheres que lutam para conseguir esses recursos não esperam nem efetivamente permitem que o Estado organize sua vida. Cooperando umas com as outras, determinadas a não ser derrotadas e a escapar do empobrecimento social e econômico, elas estão criando novos espaços que não pertencem a ninguém, nos quais as decisões a respeito da reprodução da vida cotidiana são tomadas coletivamente, incluindo o fornecimento de serviços para todos os que contribuem. Zibechi descreve a situação na Villa Retiro Bis, uma das 21 favelas de Buenos Aires:
Aqui há vizinhos que almoçam nas cozinhas populares […] à noite, estudam nas escolas primárias e socializam nas casas das mulheres […]. Certamente são espaços precários que possuem alguma relação com o Estado e com o mercado, mas são relações mínimas, marginais. O mais importante é que são projetos sustentados com apoio mútuo, autogestão, cooperação e confraternização. (Zibechi, 2015, p. 108)
Quando visitei essa mesma favela, em abril de 2015, as mulheres integrantes da Corriente Villera Independiente estavam orgulhosas do que haviam conquistado. “Tudo o que você vê”, explicaram, “construímos com as nossas mãos”. E pude ver, andando pelas ruas que elas ajudaram a pavimentar, visitando os comedores populares [cozinhas comunitárias] em que serviam centenas de refeições por dia, revezando-se no trabalho, assistindo a uma apresentação do Teatro do Oprimido2 organizada por elas, que aquele espaço era delas, e não um território estrangeiro por onde passamos, sobre o qual não temos nenhuma participação e nenhum controle. Antes da minha visita, a cidade de Buenos Aires construiu um muro para impedir a expansão da favela, mas as mulheres imediatamente o derrubaram, dizendo: “Queremos poder nos movimentar livremente e recusamos o enclausuramento”.
Enquanto a crise da agricultura de subsistência produzida pela política neoliberal resultou, muitas vezes, na formação de acampamentos parcialmente autogeridos, como aqueles encontrados nas favelas, na Bolívia o fenômeno mais comum foi a proliferação de vendedores ambulantes, que ocuparam áreas urbanas e as transformaram em ciudades mercado, por meio do “trabalho incessante de milhares e milhares de mulheres” (Linsalata, 2015, p. 64-5). Quando confrontadas com a necessidade de sair das áreas rurais e com o empobrecimento de suas comunidades, muitas proletárias levaram o trabalho reprodutivo para fora de casa e “transformaram diariamente os mercados em suas salas de estar”, onde “cozinham, cuidam das crianças, passam roupa, assistem à TV, visitam umas às outras, em meio ao alvoroço de compras e vendas” (Linsalata, 2015, p. 65).
Como aponta María Galindo, da organização anarcofeminista Mujeres Creando, a luta das bolivianas quebrou o universo do lar e da domesticidade. Rompeu a característica de isolamento do trabalho doméstico de tal forma que a figura da mulher trancada em casa virou uma imagem do passado. Em resposta à precarização do trabalho e à crise salarial dos homens, emergiu uma cultura de resistência. As mulheres se apropriaram das cidades, “transformando a cidade em um espaço doméstico” (Galindo, 2010, p. 111-2), onde passam a maior parte do tempo vendendo mercadorias (comida, produtos contrabandeados, música pirateada etc.) que “baratearam o custo de vida para toda a população”, organizando-se com outras mulheres, confrontando a polícia e, nesse processo, “reinventando sua relação com a sociedade” (Galindo, 2010, p. 114). A organização Mujeres Creando contribuiu para essa nova apropriação feminina do espaço urbano ao abrir um centro social, a Virgen de los Deseos [Virgem dos desejos] — descrita por Galindo como uma “máquina reprodutiva” devido às diversas atividades ali realizadas —, oferecendo serviços especialmente planejados para mulheres de rua, tais como creches, venda de comida, emissora de rádio para transmitir notícias sobre suas lutas, ou denunciando abusos que sofreram, além da publicação de materiais políticos e educacionais.
Vender produtos nas ruas pode não parecer uma atividade radical, mas quem está familiarizado com as intrincadas relações sociais que precisam ser criadas para viabilizar a ocupação do espaço público de uma forma não autorizada pelo Estado, especialmente em nossos tempos, sabe que essa impressão é errada. Para as mulheres que formam a maioria dos vendedores ambulantes, é preciso muita negociação e política para criar condições que lhes permitam passar a maior parte de seus dias na rua, garantir a segurança de suas mercadorias — sobretudo por causa das batidas policiais — e trabalhar pacificamente ao lado umas das outras, coordenando o uso compartilhado do espaço e do tempo, assim como as atividades de limpeza e o tabelamento dos preços. Uma vez atendidos, esses esforços criam um contrapoder que as autoridades não podem ignorar.
É por essa razão que, pelo resto do mundo, governos promovem campanhas de higienização e usam pretextos como melhorias sanitárias e embelezamento para destruir as presenças que, por ocuparem o espaço público e terem visibilidade, se impõem como ameaça às autoridades governamentais. Um exemplo das ameaças às quais os ambulantes estão expostos é a criminalização da Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre,3 uma organização de feirantes localizada na cidade mexicana de Puebla, que foi declarada inimiga pública do então presidente Enrique Peña Nieto. Grande parte da liderança masculina da organização está presa ou ameaçada de morte em um país lamentavelmente conhecido pelo expressivo número de assassinatos políticos, o que levou as mulheres do 28 de Octubre a darem continuidade, agora, ao trabalho político. Atuam como mães, esposas e vendedoras ambulantes, cuidam dos presos e de seus filhos enquanto passam longas horas trabalhando, tendo ainda de conciliar, em meio a tudo isso, a tarefa de organização política. O cenário é o de uma vida de preocupação permanente, sem tempo para descanso ou qualquer forma de diversão. Contudo, como é comum em organizações de mulheres, o que se ouve delas é o orgulho pelo que estão conquistando e pela maior compreensão de mundo que vêm obtendo, individual e coletivamente, assim como uma capacidade maior de resistir à intimidação e o aumento do respeito por si próprias e por outras mulheres. Nas palavras de mulheres como essas, é possível ver a possibilidade de um mundo diferente, no qual o compromisso com a justiça social e com a cooperação engendra um novo conceito de política que é a antítese do que geralmente se reconhece como tal.
A diferença pode ser percebida nas práticas organizacionais que as mulheres do 28 de Octubre adotaram, inspiradas nos princípios de horizontalidad e na insistência em tomar decisões coletivas, que frequentemente ocorrem em assembleias de bairro e das quais todos podem participar. Os novos movimentos de mulheres serão capazes de resistir ao ataque da expansão das relações capitalistas?
Terão o poder de contestar as tentativas de recolonizar suas terras e comunidades? Não há respostas prontas para esses questionamentos. No entanto, é certo que, nos momentos de crises agudas, quando colapsaram os mecanismos da política econômica capitalista, as mulheres se apresentaram e, por meio de um esforço coletivo, garantiram formas básicas de reprodução social e romperam a barreira do medo que aprisiona suas comunidades. Quando uma crise econômica e política se “normaliza”, a alternativa econômica criada pelas mulheres é, muitas vezes, desmantelada aos poucos, mas sempre deixa o legado de novas formas de organização comunitária e um sentido mais amplo de possibilidades.
Da mesma maneira, Raúl Zibechi com frequência lembra que, nas favelas da Argentina, do México, do Peru, assim como nas comunidades camponesas/indígenas e afrodescendentes da América Latina, um mundo novo está sendo criado, e também novas políticas. É um mundo que dá uma nova vitalidade à noção já desgastada de comuns, ressignificando-a não somente como uma riqueza a ser compartilhada mas também como um comprometimento do princípio de que essa vida precisa ser una vida digna de ser vivida. Em seu centro, como Raquel Gutiérrez Aguilar escreveu, estão a reprodução da vida material, seu cuidado e a reapropriação da riqueza coletiva produzida e organizada de uma forma subversiva, pois alicerçada na possibilidade de “articular a atividade humana e a criatividade para fins autônomos” (Aguilar, 2015, p. 126-7). A autora promove um grupo de pesquisa de mulheres acadêmicas e ativistas na Universidade Autônoma de
Puebla, no México, e é hoje uma das que mais contribuíram, na América Latina, para a articulação das experiências que descrevi, com toda a habilidade de recuperar práticas, conhecimentos, valores e visões sedimentadas por gerações de comunidades indígenas e sua contínua produção de novos significados e formas de existir.
Seu trabalho, assim como o de outras participantes do grupo — Mina Lorena Navarro, Gladys Tzul Tzul, Lucia Linsalata —, é uma parte importante da luta, um exemplo de “comum do conhecimento”, já que trabalha em um contexto acadêmico, mas de uma forma contrária aos princípios impostos pela academia à produção de conhecimento, esforçando-se para dar voz àquele complexo de afetos e emoções, poderoso e geralmente invisível, que é a substância na qual as relações comunitárias são produzidas. Atualmente, tal trabalho é mais indispensável do que nunca, por tornar visível o modo como as relações comunitárias estão enraizadas em nossa vida afetiva, como são essenciais para a nossa sobrevivência e para a valorização da nossa vida, e como nos dão coragem e força para encarar o ataque mais brutal e mais violento que o capitalismo já empreendeu a todas as formas de solidariedade social desde o auge da colonização. Demonstra que a comunalização é um aspecto indispensável de nossa vida, que nenhuma violência consegue destruir, já que é recriada continuamente e entendida como uma necessidade para a nossa existência.
1Na Argentina, são conhecidos como villas os acampamentos urbanos construídos, em geral, por pessoas expulsas de áreas rurais e imigrantes.
2 O Teatro do Oprimido foi criado nos anos 1960 pelo ator, educador e diretor de teatro Augusto Boal. É um teatro político no qual o próprio público é protagonista, atuando para resolver os problemas apresentados pelos atores.
3 O nome do grupo homenageia os mortos e feridos em uma batida policial violenta, ocorrida em 28 de outubro de 1973 em uma feira, quando dezenas de barracas foram queimadas e uma criança morreu no incêndio. Um relato sobre a batida e as atividades da organização pode ser encontrado em García (2013).
Gostou do texto? Contribua para manter e ampliar nosso jornalismo de profundidade: OUTROSQUINHENTOS



 231
231