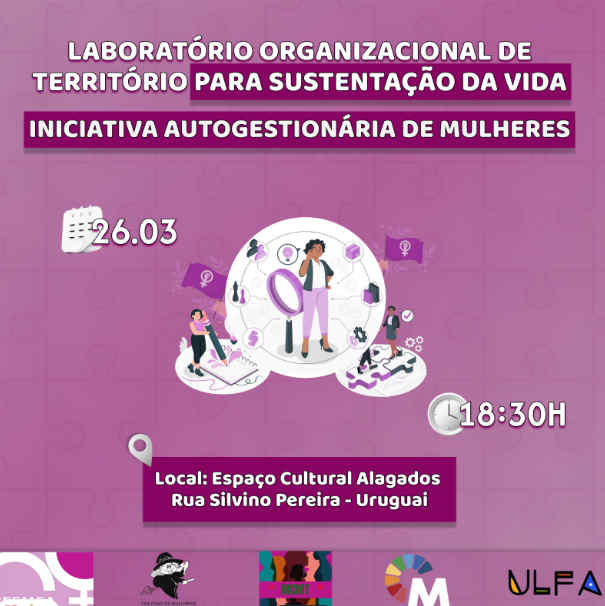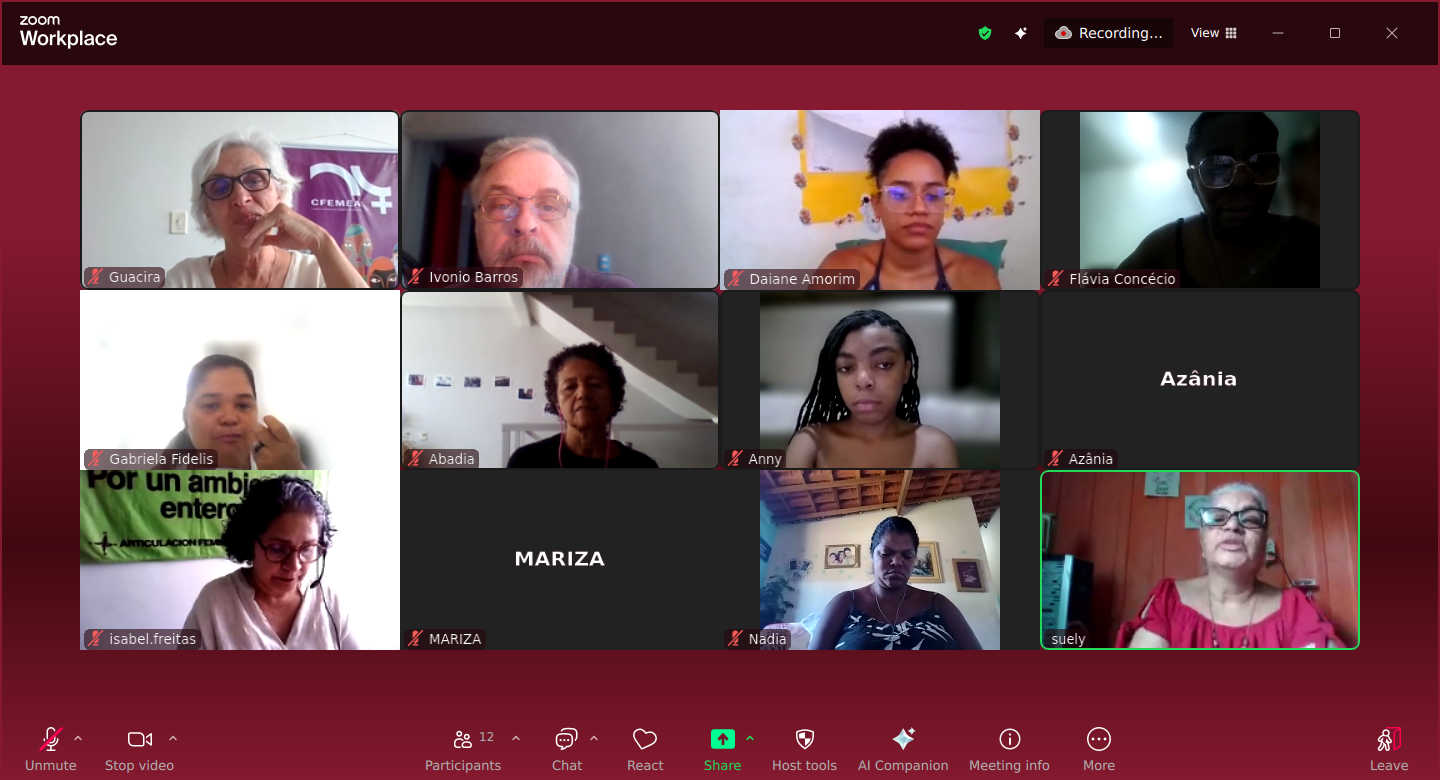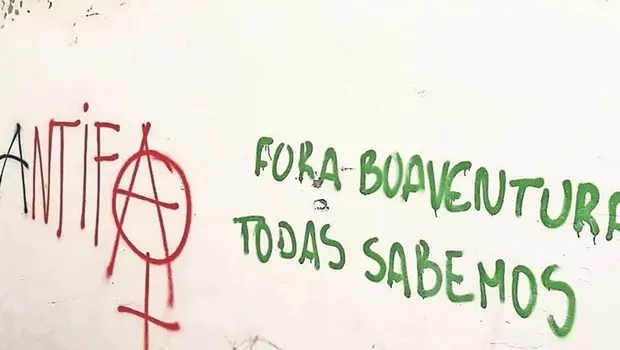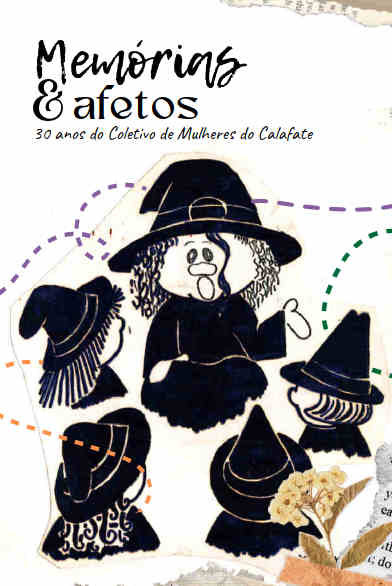Décadas após o fim do velho socialismo, persiste a tendência a descrer, com cinismo e enfado, de novos projetos emancipatórios. Talvez a potência concreta das lutas feministas seja antídoto, inclusive em tempos de celebração carnavalesca
Publicado 17/02/2023 às 19:59

Por Laura Fernández Cordero, no Nuso | Tradução: Rôney Rodrigues
Bile negra, humor saturnino, procrastinação hamletiana, gênio literário, talento artístico, trabalho psíquico… A melancolia é um conceito com uma longa história no pensamento ocidental. O dicionário espanhol oferece uma definição simples do que circula no senso comum: “Tristeza vaga, profunda, calma e permanente, nascida de causas físicas ou morais, o que significa que quem a sofre não encontra prazer ou diversão em nada”. No entanto, essa simplicidade oculta uma poderosa ambivalência que provoca uma constante releitura do termo – e a permanente reconfiguração dos limites do seu significado.
Sua etimologia latina com origem grega refere-se à escuridão da alma e à densidade corporal. A bile negra, como um dos quatro humores básicos, foi central na Filosofia e na Medicina antigas. A partir dessas primeiras formulações, o termo atravessou o mundo medieval marcado como uma referência à patologia, à demonologia e à busca pela concretização da condição humana. Cristal para observar o mundo (e motor particular de ação), a melancolia tornou-se um ponto cardeal para interpretar obras artísticas, escritos filosóficos, literatura ou assuntos políticos. Perto do vigor criativo, mas também da loucura, esta inquietante composição explica, em parte, a sua produtividade reflexiva que, ao longo dos séculos, carregou tanto apreciações positivas como fortes depreciações.
Assim, condenada e celebrada, mas nunca esquecida, a noção de “melancolia” chega à Modernidade e, entre outros marcos, protagoniza um livro obrigatório: Anatomia da Melancolia (1621) de Robert Burton 1 . Essa argumentação é o resultado de um diagnóstico da subjetividade e, ao mesmo tempo, é chave para uma crítica humanista da religião e da política então vigentes. Esta dupla condição da melancolia mantém-se num percurso que se torna impossível recompô-la em sua totalidade, mas no qual não se pode omitir o célebre ensaio de Sigmund Freud, Luto e melancolia, escrito na primeira década do século XX. Ali, a psicanálise traçou uma oposição que dará lugar a inúmeras reelaborações e cujos traços reaparecem em toda produção literária, cinematográfica, musical ou visual que gravita em torno da ideia de melancolia, com particular insistência no início do novo milênio.
Parte desse ressurgimento está registrado nas reflexões teóricas e políticas que retomam o conceito de “melancolia de esquerda” proposto por Walter Benjamin na década de 1930. Ao revisar a obra do poeta Erich Kästner, Benjamin denunciava uma posição política egocêntrica e indolente, obcecada pelo culto de velhas ideias. Essa sugestiva crítica à intelectualidade de esquerda inspirará uma intervenção de Wendy Brown, filósofa e cientista política estadunidense que, em artigo publicado no final do século XX, recuperou a “melancolia da esquerda” ao avaliar certos aspectos da chamada “crise do marxismo”, que se aprofundou após a implosão da experiência soviética e a queda do Muro de Berlim 2 .
Sem contornar o vocabulário das paixões – embora esclarecendo que a resposta está menos na terapia emocional do que na ação política –, Brown não deixou de valorizar a potência da tristeza e do claro-escuro anímico que o próprio Benjamin cultivava. No entanto, notou como a perda de legitimidade do paradigma marxista e a consciência cabal das derivas autoritárias geraram uma desilusão imobilizadora, a dificuldade de propor caminhos alternativos e, sobretudo, a reconfortante identificação de “bodes expiatórios” para esse presente político incômodo, Entre elas: as políticas identitárias (ligadas à questão racial e de gênero) e o pós-estruturalismo/pós-modernismo (com profundo impacto na categoria de sujeito e na noção de universalidade). A intenção de Brown não era a de evitar a discussão ou ignorar os desafios dessas instâncias, mas identificar como essas denúncias poderiam oferecer à ortodoxia um refúgio defensivo de toda autocrítica. Segundo ela, esse sentimento negativo de melancolia se encarnaria em uma esquerda (marxista) com forte apego à culpa pelo passado, uma obstinada rejeição do presente e uma consequente (e fatal) paralisia da imaginação futura.
De imediato, uma frase que partiu de Fredric Jameson e se alastrou com Slavoj Žižek sintetizaria esse estado das coisas. Em resumo: seria mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E, diante desse desânimo em alguns autores marxistas, a melancolia retornará não com seu ônus paralisante, mas com seu lado produtivo. O caso mais evidente é o de Enzo Traverso, historiador italiano que hoje é professor da Universidade de Cornell, em seu livro Melancolia de esquerda (2016) 3 ; e em uma atraente variante fantasmagórica, a obra do escritor e crítico cultural britânico Mark Fisher (2013)4 . As duas propostas se distanciam de um estado anímico ligado à escuridão, à procrastinação e às travas do desejo; em vez disso, fazem explodir oportunidades a partir do gesto melancólico para, assim, conservar a memória do passado – mesmo diante da pesada carga de derrotas. Os autores consideram que esta é a única forma de combater a inação e promover uma reformulação das opções políticas futuras.
Numa linha de reflexão que, partindo de Freud e Benjamin, passando por Jacques Derrida, Michael Löwy e Daniel Bensaïd, entre outros, as análises de Traverso e Fisher não poupam amargura ao descrever o clima da contemporaneidade. Suas abordagens derivam de uma “virada afetiva” que supõe uma atualização da deliberação sobre afetividade e emoções na vida política 5 . No caso de Traverso, há um tom emocional do presente ligado à desesperança, ao eclipse das utopias, à desilusão, ao duelo de expectativas, às perdas ominosas e à inércia de ver o passado revolucionário reduzido ao totalitarismo e ao horror. Embora sua severa avaliação alcance “os movimentos que lutaram para mudar o mundo com o princípio da igualdade no centro de seu programa”, ele dedica mais atenção ao marxismo e a sua cultura política. Essa redução confessa faz com que suas teses se estendam a outros movimentos emancipatórios com menor eficácia, principalmente se pensarmos no feminismo. Para que sua argumentação seja sustentada com tal nível de generalização, é necessária uma operação muito precisa que consiste em reduzir a experiência feminista e o movimento de mulheres a um “feminismo revolucionário” que coincide com o socialismo e o comunismo; e deixar de fora as experiências anarquistas. Ao mesmo tempo, ele postula uma correlação lógica entre a “queda das utopias feministas” e a difusão dos “estudos acadêmicos”, além de caracterizar a “política de identidade” como “regressiva”. Ele, no entanto, reconhece que a “conquista acadêmica” é “significativa”, mas apenas para apontar, em seguida, que “deixou-se de considerar gênero e raça como marcadores de opressão histórica”. Para apoiar-se, o autor cita a teórica feminista Rosi Braidotti e, sintomaticamente, inclui uma declaração da já citada Wendy Brown, embora ao recolocarmos esse fragmento no artigo de onde provém, revela-se que carece do sentido que Traverso necessita para sustentar sua afirmação.
Embora sem diálogo direto, Fisher concordaria com o italiano em resgatar o sentido positivo da melancolia. Mais orientado para descrever o presente do “realismo capitalista” do que a constelação de experiências passadas, Fisher propôs uma reflexão muito interessante sobre o “o lento cancelamento do futuro”, imagem que tomou emprestado do filósofo Franco “Bifo” Berardi. Em uma obra inspiradora, encerrada devido ao seu suicídio em 2017, Fisher explicitou suas diferenças em relação às formas negativas da melancolia – tanto aquelas apontadas por Brown quanto à “melancolia pós-colonial” postulada por Paul Gilroy–, ao mesmo tempo em que defendia uma análise materialista marxista da depressão que o assombrava pessoalmente. Numa sugestiva viagem pela cultura pop, pelas produções audiovisuais e pela indústria musical, Fisher convocava os espectros que rondam a ação política e que, em sua lembrança, não se retarda em nostalgia inoperante para aqueles que os cultivam.
Com suas diferenças, ambos os autores respondem à crítica de Brown com uma eloquente reviravolta argumentativa que, sob a forma de uma nova “melancolia de esquerda” e uma “assombrologia” criativa, busca uma melhor relação com o passado, a revitalização das lutas presentes e uma projeção inspiradora. Eles também coincidem em considerar “significativos” os avanços nos direitos de gênero, ao mesmo tempo em que apontam para a captura dessas lutas pela insaciável ordem neoliberal.
Um terceiro elemento que os une é a resposta evasiva ao apontamento de Brown sobre o que está englobado sob a noção de “políticas de identidade”, um conjunto de experiências e conquistas que não para de ganhar presença e multiplicar os problemas apontados pela autora. Ou seja, essa nova e promissora melancolia da esquerda (marxista) esquiva-se do debate e perde a oportunidade de enfrentar o que continua sem resolução – uma efetiva articulação teórica entre classe e gênero –, ao mesmo tempo em que não contribui para sustentar aquilo que reivindica: um feminismo de mudança social que contraria as inegáveis apropriações do capitalismo neoliberal.
Essa particularidade imbuída nesse tipo de posicionamento pode ter como uma de suas causas o fato de que as bibliografias feministas não costumam fazer parte das leituras sistemáticas de grande parte do campo intelectual de esquerda e, em geral, seus autores não transitam pelas experiências assembleias e manifestações populares feministas. É provável que eles tampouco notem essa profusa circulação de ideias como um conjunto de estratégias e saberes que frequentemente viajam dos países do Sul global para os grandes centros — e não o contrário, como é mais comum em suas lógicas intelectuais. Portanto, ao ignorar a dinâmica política concreta, é muito provável que esses intelectuais abordem o feminismo como uma expressão pouco plural e não se atentem ao constante debate sobre a “mulher” como sujeito hegemônico do movimento ou às alianças e disputas vitais com os ativismos LGBTI+. No mesmo sentido, não aprofundar esses intrincados antecedentes históricos – que nada tem a invejar das vicissitudes do marxismo ocidental – pode levar à conclusão de que o feminismo liberal e sua herdeira, a “mulher empreendedora”, constituem uma completa novidade do capitalismo tardio.
Seria de esperar que, em tanto finíssimos cultivadores da reflexão sobre o impacto do presente no exercício das memórias, estes autores antecipassem que esta caracterização do século XXI feita por Traverso – de uma “uma época marcada por um eclipse geral das utopias”; muito diferente dos dois séculos anteriores abertos com as revoluções francesa e russa – não tem o mesmo sentido para uma pessoa envolvida no ativismo feminista ou para quem participa de protestos e assembleias de mulheres há décadas. Não só porque ela está imersa na luta por uma mudança profunda e cotidiana, mas porque talvez já tenha lido sobre os conturbados direitos da cidadania francesa, sobre a proibição do divórcio instituída pelo Código Napoleônico ou sobre o cerceamento das atividades políticas das mulheres nos memoráveis dias de 1848. Em outras palavras, o passado não é visto com candura nostálgica, mas com o olhar desconfiado de quem – como o militante gay, a intelectual lésbica ou qualquer identidade racializada – teve que continuar lutando mesmo sob o mel de governos revolucionários.
Por sua vez, o exercício de evocação feminista não está amarrado a um mumificante “dever de memória” ou à simples veneração de glórias passadas. Ao contrário, a luta pela história segue viva — porque, na contramão dos cânones estabelecidos e das narrativas hegemônicas, são incontáveis os resgates de autoras, silêncios rompidos e reedições de obras retomadas a contragosto, na melhor via benjaminiana. Por outro lado, se o marxismo tem encontrado dificuldades para pensar corpos e subjetividades, ele bem poderia recorrer com maior entusiasmo à intensa produção teórica e prática dos feminismos e ativismos LGBTI+, que não desdenham quanto a problematização dessas entidades em questões pessoais e termos políticos, além de ensaiar uma abordagem materialista crítica. Trata-se de uma produção atual que não escapa à tentação de uma vitimização generalizada com direito a tudo, mas é evidente para quem acompanha estes ativismos de perto que são inúmeros os exemplos de rechaço à figura de vítima por excelência e de construção política permanente em torno da sobrevivência e da precariedade. E, se a insistência de uma identidade hipostasiada é inegável, a ela se contrapõe um compromisso sustentado pelo rechaço às essências e aos biologicismos. É, também, nessa pluralidade não isenta de dificuldades onde abunda invectivas contra o imperativo da felicidade e versões queer das utopias que resistem ou ressignificam a tão falada cooptação do neoliberalismo.
A decisão de agregar todas as expressões dos diversos feminismos ao fim do ciclo revolucionário da esquerda remete a uma lúcida crítica da filósofa francesa Françoise Collin que, no auge de algumas teorias pós-estruturalistas que ela mesma celebrava, questionava com algum sarcasmo sobre o anseio dos filósofos por um desmantelamento do Sujeito soberano e da Verdade — justamente no momento em que as mulheres acabaram assumindo essa posição e palavra pública 6 . No mesmo sentido, se concordarmos que estamos em plena discussão sobre a identidade “mulher”, a visibilidade de subjetividades não masculinas e a voz pública de outras identidades em flagrante discussão sobre a binarismo e o mandato heterossexual etc. seria justamente agora se encerra o ciclo revolucionário emancipatório? Ainda que a derrocada ecológica nos ameace, aquela frase corrente sobre a falta de imaginação para superar o sistema em sua totalidade sem perder o planeta é realmente válida para todos aqueles que se preocupam com a mudança social?
Este apontamento parcial de duas propostas teóricas e políticas — diversas e complexas — não pretende rejeitar completamente o convite a uma melancolia de esquerda e a uma assombrologia que apelam a uma relação mais produtiva com o passado, a ativar um imaginário de superação do capitalismo e a deixar de tornar o luto algo ruim, de futuros perdidos. Na verdade, isso poderia ser um bom recurso para lutar contra as versões mainstream do feminismo neoliberal e as capturas do imaginário de liberdade sexual pelo consumismo e pelas “novas direitas”. O que se pretende é alertar sobre um possível novo marco na longa história de encontros frutíferos e consequentes desencontros entre a esquerda marxista e os feminismos. Embora duvidemos duma generalização voluntariosa, essa virada da melancolia em sentido positivo poderia pedir ainda mais entusiasmo porque, talvez em outras vanguardas, outras orientações teóricas e outras operações políticas insuspeitadas, há a possibilidade de pensar se todo o arco dos feminismos e os ativismos LGBTI+ vai cair, sem lutar, no fatal “realismo capitalista” ou pode fazer parte de uma alternativa que ainda nem imaginamos.
Assim como o marxismo materialista continua sendo um dos prismas fundamentais para analisar o capitalismo tardio, uma perspectiva crítica de gênero ainda tem muito a dizer nessa nova inflexão melancólica. Algo que o diretor Lars Von Trier sugere-nos com seu filme Melancholy (2011), dedicado precisamente a traduzir em imagens (oníricas, dramáticas, pictóricas) um iminente e devastador fim do mundo. Observando a protagonista feminina, Slavoj Žižek encontrou um certo otimismo no roteiro e comemorou a aceitação serena da linda Justine que, em sua depressão, não participava mais da festa decadente de sua família burguesa ou de sua própria vida. É hora desse foco inveterado no feminino girar para se concentrar na masculinidade; assim, perceberíamos a casualidade escorregadia dos personagens centrais: o Noivo que renuncia ao compromisso nupcial, o Pai que foge da conversa filial e o Homem dono da casa e provedor que sucumbe quando sua Ciência e suas previsões falham miseravelmente.
Suspender os nomes próprios e aplicar essa lente sobre a “masculinidade do intelectual de esquerda” propiciaria uma analise das implicações objetivas de sua leitura, uma perspectiva que tende a ignorar sua condição situada e se permite diagnosticar o presente, reler o passado emancipatório, e encorajar transformações futuras com atenção insuficiente às experiências políticas de feminismos plurais. E que não estarão assaltando Bastilhas nem tomando Palácios de Inverno, mas protagonizam uma das mais promissoras revoluções de estruturas sociais e subjetivas do novo século.



 310
310