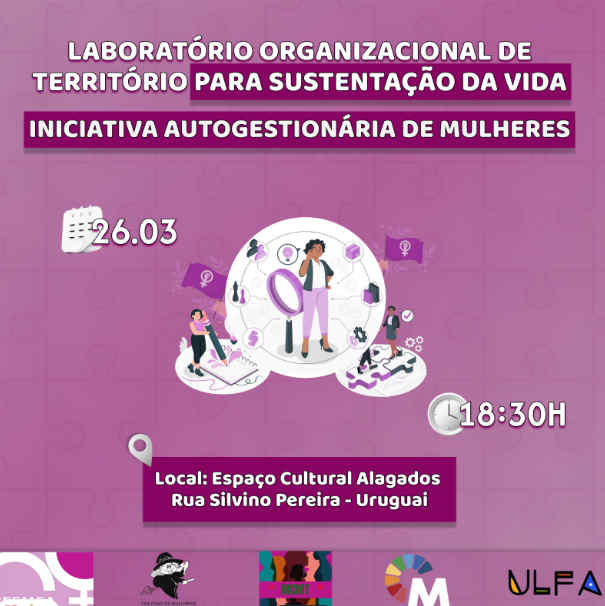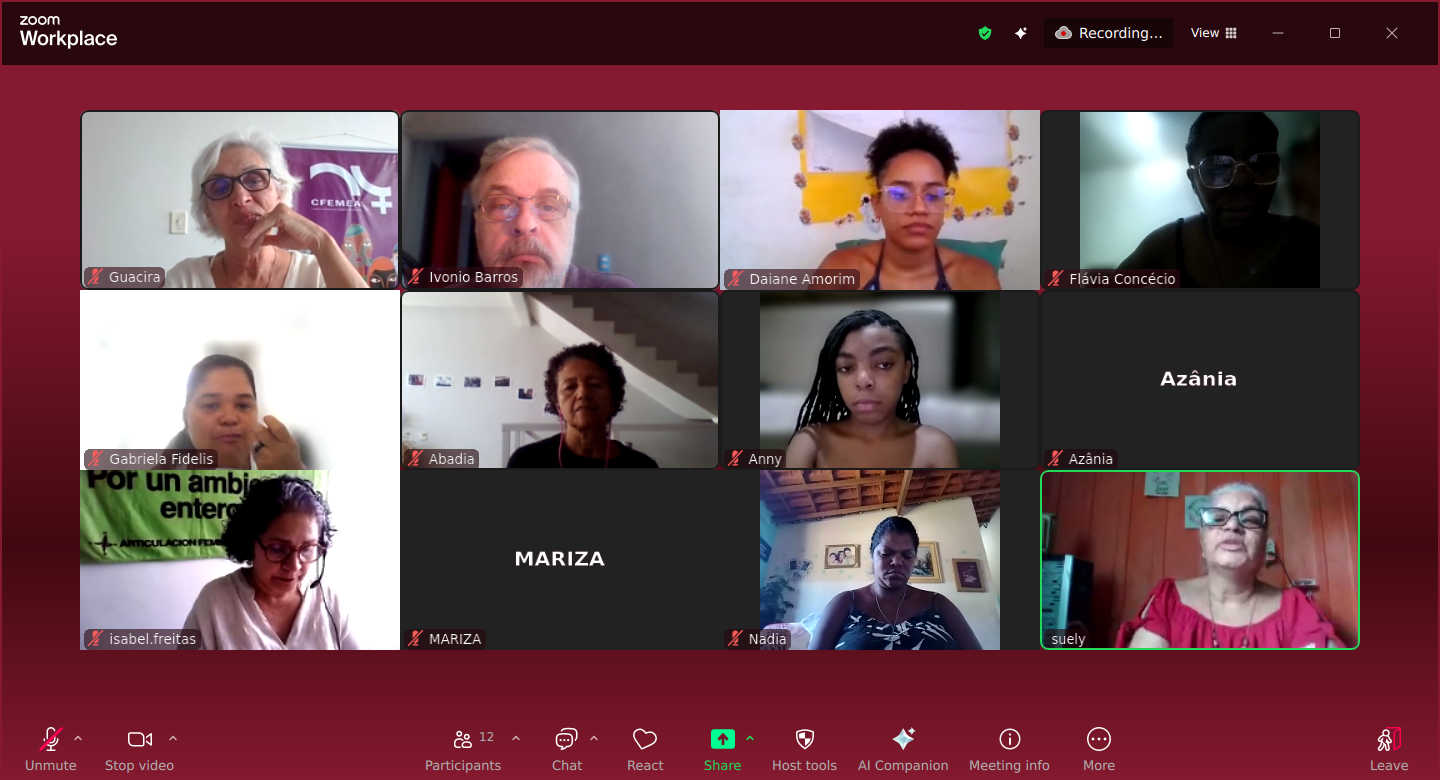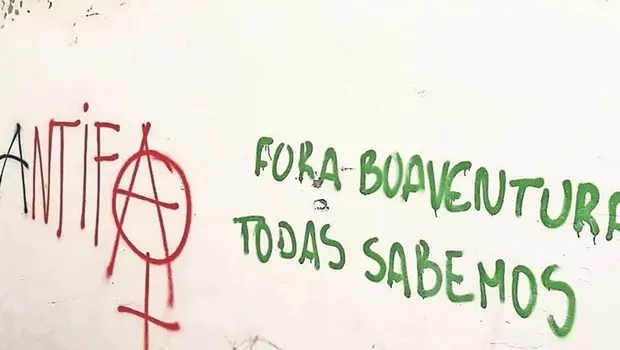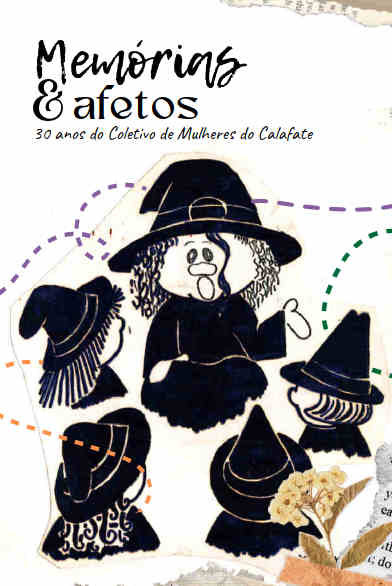O processo Constituinte não mobilizou apenas os parlamentares eleitos para fazer uma nova Constituição. Reconhecidamente foi um processo que mobilizou grande parte da sociedade brasileira. Pelo menos em se tratando das brasileiras, ele alcançou um número bastante expressível.
- em

O processo Constituinte não mobilizou apenas os parlamentares eleitos para fazer uma nova Constituição. Reconhecidamente foi um processo que mobilizou grande parte da sociedade brasileira. Pelo menos em se tratando das brasileiras, ele alcançou um número bastante expressível.
O CNDM – Conselho Nacional de Políticas para as Mulheres, órgão governamental que coordenou as propostas das mulheres, atuou com eficiência, democracia e (quase) liberdade total.
Foram organizadas comissões para as áreas de saúde, educação, trabalho (rural e urbano), violência, combate ao racismo, implantação de creches e legislação. A Comissão de Legislação estava encarregada de analisar e sistematizar as propostas que chegavam ao Conselho.
Fui convidada para participar desta última Comissão, que à época era coordenada pela advogada carioca Comba Marques Porto. Por motivos pessoais ela teve que voltar para o Rio e me foi entregue a coordenação. Procurei continuar a linha traçada por Comba, que já havia esquematizado os trabalhos e, junto com a equipe fomos analisando as propostas em forma de relações de reivindicações ou cartas pessoais que chegavam de centenas de mulheres ou grupos de mulheres de todos os estados da federação.
As cartas que chegavam de todas as regiões do Brasil eram, principalmente, a expressão dos desejos das mulheres. Foram escritas por operárias sindicalistas, trabalhadoras rurais, pescadoras, acadêmicas das diversas áreas, profissionais liberais, trabalhadoras domésticas, donas de casa, mulheres brancas, negras, índias, ciganas, hetero, bi e homossexuais, e tantas outras raças e categorias.
Haviam cartas que já esboçavam projetos de leis dentro das normas legislativas. Haviam outras que continham essencialmente um desejo, como o desejo de ver abolida a prática da violência contra a mulher, de ser incluída a facilidade de acesso ao ensino, o desejo de ver uma sociedade justa e democrática.
Muitas vezes parávamos com uma carta nas mãos chamávamos toda a equipe para conosco ler aquele brado e quando isso ocorria, sentíamos uma emoção enorme. Essas cartas geralmente não continham uma proposta concreta. Era um desabafo, um desassossego. Víamos que a mulher não esperava resposta, só queria compartilhar e partilhar.
À época já existiam vários conselhos de direitos das mulheres estaduais e/ou municipais. Esses conselhos promoviam reuniões, encontros ou seminários das mulheres e organizações locais para discutirem e elaborarem propostas.
Alguns locais, onde não havia conselho, as próprias mulheres e organizações, promoviam os eventos e elaboravam as propostas que eram encaminhadas ao CNDM.
Assim, havia duas formas de recebimento de propostas escritas: as individuais, que tratavam de assuntos pontuais e as propostas organizadas por área, que geralmente vinham de grupos organizados.
Havia mulheres que se deslocavam para ir ao CNDM dizer o que queriam que fosse incluído na Constituição. A estas escutávamos e anotávamos as propostas. Não eram poucas as que vinham apenas em busca de resolver problemas jurídicos. Para essas apontávamos as formas de resolução para seus conflitos, fazendo assim o papel de uma consultoria jurídica, o que, por vezes causava recriminação interna por deixarmos de cumprir nosso papel de sistematizar as propostas para atender questões pessoais. Mas nós fazíamos ouvido de mercador e no dia seguinte estávamos, novamente, atendendo outra mulher de forma particular. Pode ter havido, mas ignoro que a Comissão de Legislação do CNDM deixou de atender quem lhe procurava, durante aquele período. Era compromisso interno da equipe.
As mulheres queriam tudo – tudo que tinham direito e algumas vezes queriam até o que não tinham direito. O que era impossível constar de uma Constituição. Mas elas queriam e então pediam. Cabia a nós, assessorando o Conselho, separar o factível do inexeqüível. E este trabalho era árduo para nós que sabíamos da impossibilidade, mas estávamos sensíveis as necessidades. Como poderíamos encaminhar ao Congresso um pedido de “felicidade no casamento”? Ou “abolição da bebida alcoólica que evitaria o alcoolismo do companheiro”?
Havia ainda, muitas vezes, a dificuldade de entender o que estava escrito. Não por não estar em um português correto, mas sim pela complexidade e embrulhada do pedido. Desta forma, o selecionar, encaixar em um tema de forma a que fosse contemplado, era uma maratona árdua que requeria a leitura de várias assessoras.
Muitas conselheiras participaram diretamente da seleção das propostas. Era uma emoção redobrada quando tínhamos a nosso lado ícones do feminismo, que só conhecíamos pelas produções literárias, acadêmicas ou culturais. Trabalhar ao lado de uma Rose Muraro, uma Marina Colasanti ou uma Florisa Verucci era muito forte. Toda a admiração por essas mulheres fazia-nos sentirmos privilegiadas.
Não era raro entrarmos noite adentro, tentando completar uma proposta que deveria ser apresentada no dia seguinte no Congresso. Nessas ocasiões o silencio da Esplanada dos Ministérios se tornava nosso conselheiro e a produção aumentava.
A campanha “Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher” estava na rua e precisávamos levar o trabalho do CNDM junto aos constituintes. O “lobby do baton”, como ficou conhecido a campanha, estava consagrada e de piada transformou-se em lema. Não só as mulheres, mas também muitos homens desfilavam no Congresso com o adesivo da campanha.
A bancada feminina do Congresso tomou corpo fazendo com que as poucas mulheres constituintes valessem em dobro ou em triplo. Não era raro uma deputada atravessar a esplanada para discutir no Conselho esta ou aquela proposta. O clima não permitia uma hierarquização de poder. Todas, feministas históricas, parlamentares, técnicas do CNDM e mulheres do movimento eram apenas mulheres em busca de uma vitória. Lá no Congresso, as parlamentares formaram um bloco de puro granito. Não se falava em ideologia ou partido político. Elas atuaram de forma suprapartidária e a maioria das propostas foi assinada por toda a bancada.
O clima de euforia transpassava as paredes do Ministério da Justiça, chegando ao Congresso em forma de propostas ousadas e utópicas. Muitas vezes pensávamos e discutíamos que tal proposta não seria aceita e, para nossa surpresa e alegria ela ia sendo aprovada nas comissões, sem ser cortada ou alterada.
Mas não podemos deixar de lembrar as vezes que passamos e enfrentamos dificuldades. Lembro que nos debates sobre o artigo da família (que recebeu o número 226), alguns deputados vinham
com a argumentação tipo: “conduzir uma família é como conduzir um navio. Só pode haver um comandante. Duas pessoas com o mesmo poder vai desordenar a família”; ouve também o deputado que alegou ser a briga entre marido e mulher uma questão de fórum íntimo, querendo rejeitar a proposta que assegurava “assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (transformada em § 8º do art. 226).
Ainda no artigo 226, não foi fácil introduzir o § 4º. Com ele a comunidade familiar deveria ser entendida como aquela formada por qualquer dos pais e seus descendentes. A proposta discutida entre algumas integrantes da equipe, para este artigo era mais ousada e dizia “qualquer pessoa e seus descendentes”. Se aprovada, teríamos avançado na questão da união homoafetiva, que até agora ainda não conseguiu respaldo legal.
Passávamos horas analisando onde poderia ser incluída a palavra “mulher”, onde já existia a palavra “homem”. Foi assim que ela foi colocada em vários artigos, a começar pelo item I do 5º.
– “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. Sabíamos, por experiência própria que a palavra “homem” poderia ser entendida como “ser humano”, mas, o poderia não significava o deveria e as mulheres, ao longo da história, já haviam sido postas de lado por esta ortografia má interpretada. Assim foi na questão do direito ao voto. No Rio Grande do Norte, no final da década de 20, quando o governo daquele Estado entendeu que em “todos” a mulher estava incluída, as mulheres daquele estado foram as urnas. Não valeu, a eleição foi anulada porque em âmbito nacional se entendia que, naquele caso o “todos” não incluía as mulheres. Para sanar questões como esta, ficou expressa a palavra “mulher” em vários artigos.
Muitos outros itens foram importantes para nós, como o referente a mulher presidiária, que causou a polêmica de se deve ou não permanecer com seus filhos durante a amamentação. Vencida a segunda hipótese. A mulher rural e seu direito de ter incluído seu nome na escritura de posse da terra além de outros tantos direitos. Enfim, no balanço pós-constituinte foi declarado que cerca de 80% das reivindicações das mulheres foram aprovadas.
Quando íamos para o Congresso assistir os debates, o que era quase que diariamente, encontrávamos um ambiente excepcional. Nunca o Congresso foi tanto heterogêneo, uma verdadeira “Torre de Babel” positiva e bem brasileira. Grupos indígenas ou ciganos com suas roupas típicas, camisetas multicoloridas, chapéus iguais, lenços na cabeça, grupos em cadeiras de rodas, velhos e velhas unidos, crianças acompanhadas por defensores de seus direitos. O colorido formava um Arco Iris de brasileiros e brasileiras empolgados, ansiosos e esperançosos. Não era difícil passarmos naquele grande salão verde e vermos uma sumidade dando uma entrevista ou algum grupo fazendo uma apresentação. E nas gramas que rodeiam o Congresso, grupos sempre chegando, cantando, descansando, namorando, portando bandeiras, faixas e estandartes.
Hoje, passados vinte anos não consigo relembrar maiores detalhes, mas a certeza de que viver àquela época e naquele local (mesmo como uma simples assessora de um recém-criado conselho e por cima conselho de mulheres, metade da população brasileira ainda tão discriminada), foi viver a história, ajudar a escrever a história atual do Brasil e, apesar dos pesares, apesar de ainda não termos todas as conquistas implantadas, nem mesmo todos os artigos referentes as mulheres regulamentados, tenho que reconhecer que valeu.
Natal, outubro de 2008
(*) Por Iáris Ramalho Cortês, advogada e feminista. Cofundadora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA), integrante do Conselho Deliberativo do Centro. Pela Contexto é autora do livro Nova História das Mulheres no Brasil.
(*) Por Iáris Ramalho Cortês, advogada e artesã, sócia fundadora do Cfemea.
Natal/RN, Praia de Barra do Rio, 8 de março de 2012.
 Iáris Ramalho Cortês, 81 anos, Advogada, feminista, co-fundadora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA, faz parte do seu Conselho Deliberativo. Participou dos trabalhos constituintes no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, integra o Consórcio Lei Maria da Penha e já participou do Forum de Mulheres do Distrito Federal, Forum Nacional de Direitos Humanos, Grupo Arco-íris de apoio a portadores do HIV/AIDS do Distrito Federal e dos conselhos: OAB/DF, Direitos da Mulher do GDF e Conselho de Adoção do GDF. Endereços eletrônicos:
Iáris Ramalho Cortês, 81 anos, Advogada, feminista, co-fundadora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA, faz parte do seu Conselho Deliberativo. Participou dos trabalhos constituintes no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, integra o Consórcio Lei Maria da Penha e já participou do Forum de Mulheres do Distrito Federal, Forum Nacional de Direitos Humanos, Grupo Arco-íris de apoio a portadores do HIV/AIDS do Distrito Federal e dos conselhos: OAB/DF, Direitos da Mulher do GDF e Conselho de Adoção do GDF. Endereços eletrônicos:



 743
743